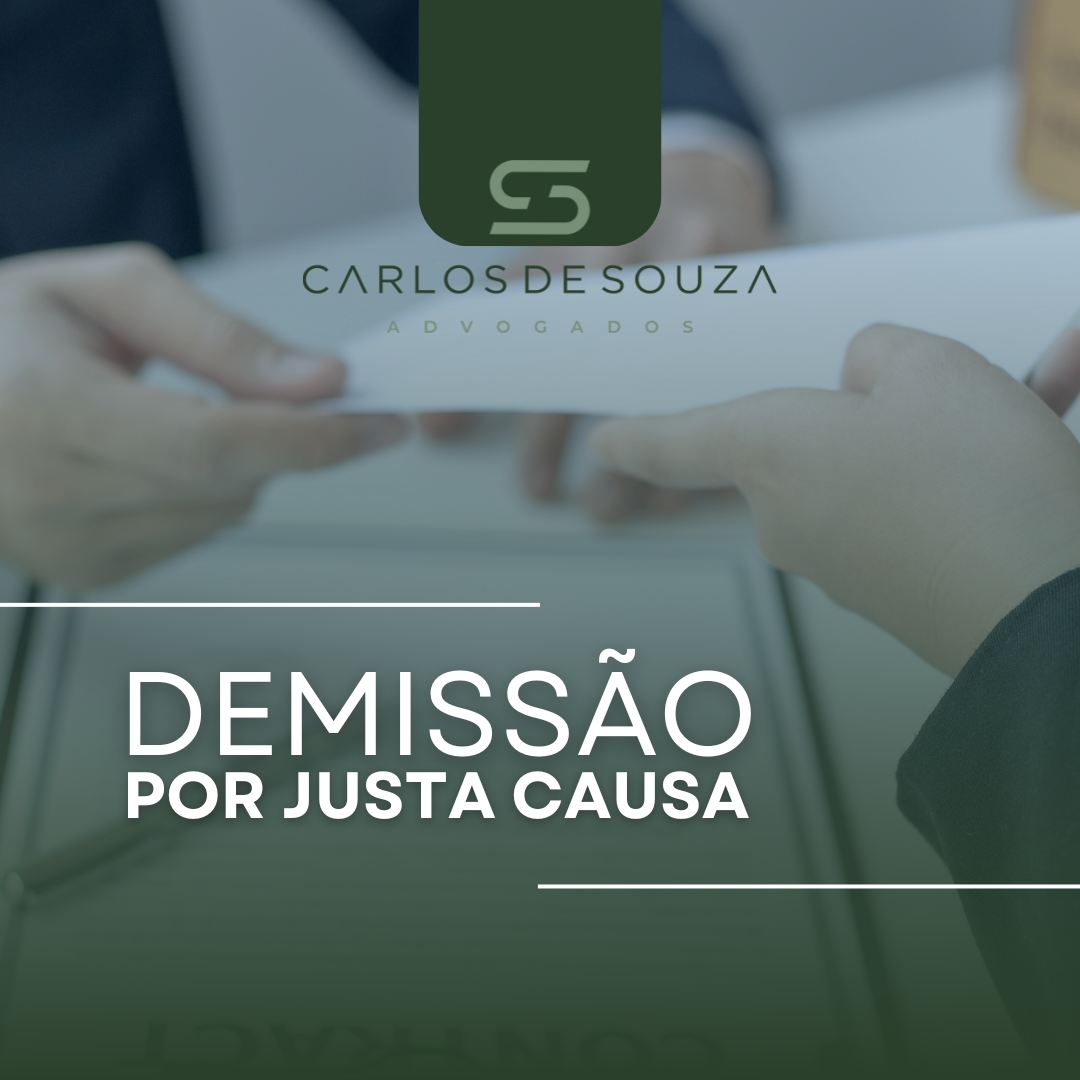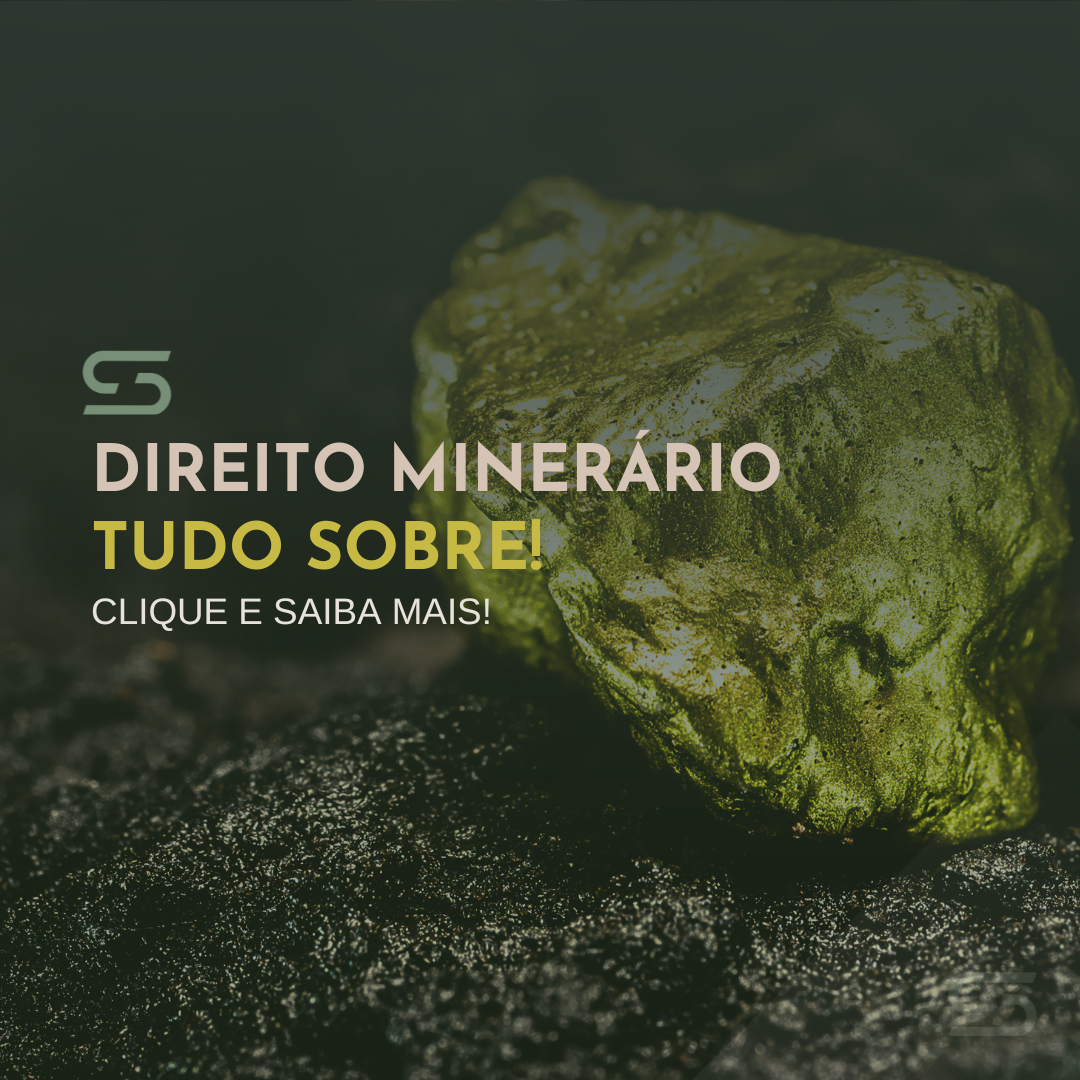Os contribuintes obtiveram importante vitória no Supremo Tribunal Federal (STF), no que diz respeito ao momento em que o Ministério Público receberá as informações para persecução de crimes tributários, inclusive contra a Previdência Social. A Suprema Corte decidiu que o Ministério Público tomará providências para apuração de crime contra a ordem tributária somente após proferida a decisão final, na esfera administrativa, sobre a exigência fiscal do crédito tributário. A comemorada decisão foi proferida no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4980, o Plenário do STF julgou constitucional o artigo 83 da Lei 9.430/96, cuja redação prevê que, nos crimes de sonegação, sonegação de contribuição previdenciária e apropriação indébita de contribuição previdenciária, a representação fiscal para fins penais será encaminhada para o Ministério Público depois de proferida a decisão final, na esfera administrativa, sobre a exigência fiscal do crédito tributário correspondente. Assim, somente após a conclusão definitiva do processo administrativo fiscal de constituição de crédito tributário, ou seja, do processo destinado à apuração do crédito e, até mesmo, à verificação de sua existência, ou não. Nada mais óbvio, pois o devido processo legal de constituição do crédito deve ser respeitado para que o contribuinte não tenha seus direitos violados. Antes da decisão administrativa definitiva que afirme a inexistência do crédito e seu “quantum” não se pode perquirir a ocorrência do crime tributário. Ademais, o direito penal não pode ser utilizado como um instrumento arrecadatório para o Estado e de ameaça para o contribuinte, pois ele deve atuar para tutela de direitos em último caso. A decisão está em harmonia com a Constituição Federal, pois aguardar a conclusão do processo administrativo significa respeitar o direito constitucional do contribuinte ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, além de evitar decisões contraditórias na esfera administrativa e na esfera criminal. Enfim, a decisão confere aos contribuintes maior segurança jurídica. Mariana Martins Barros é advogada tributária, sócia coordenadora da área tributária do Escritório Carlos de Souza Advogados e membro da Comissão de Direito Tributário da OAB/ES. Artigo publicado pelo Jornal Online Folha Vitória: https://www.folhavitoria.com.br/geral/blogs/direito-ao-direito/2022/03/11/mp-deve-aguardar-constituicao-definitiva-do-credito-tributario-para-apurar-crime/
Morrendo uma pessoa que possua bens, esse patrimônio é passado para os seus herdeiros legítimos, com o destaque de que, quando o falecido tiver feito um testamento válido, as disposições testamentárias deverão ser atendidas. Quais são os bens que podem compor uma herança? Os mais diversos, entre eles: imóveis, veículos, dinheiro em conta, aplicação financeira, quotas e ações de empresas, obras de arte, entre outros. Segundo a lei, surgindo a herança, há uma ordem de vocação hereditária: (1) descendentes; (2) ascendentes; (3) cônjuge; (4) colaterais. Essa ordem exclui as categorias posteriores. Exemplo: falecendo uma pessoa que tenha filhos, esses descendentes receberão a totalidade da herança, sem que nenhuma parte seja destinada aos demais. No caso de não haver descendentes, os pais (ascendentes) receberão o patrimônio, e assim sucessivamente. É importante não confundir com a situação da parte do cônjuge. O cônjuge, a depender do regime de casamento, tem direito à metade dos bens em virtude do casamento em si, e a outra metade é que vai para os herdeiros. Como destacado no título, há casos em que um herdeiro pode se ver excluído do direito de receber a herança. Esse direito perdido beneficia os demais herdeiros. Significa dizer que o direito à herança não é absoluto, podendo ser desfeito em certas circunstâncias previstas em nossa legislação. Essas circunstâncias que causam a perda ao direito à herança são casos gravíssimos e justificáveis, já que, quem pratica atos listados como motivadores da exclusão hereditária, de fato não merece o patrimônio do falecido. É como vemos no artigo 1.814 do Código Civil: São excluídos da sucessão os herdeiros ou legatários: I – que houverem sido autores, coautores ou partícipes de homicídio doloso, ou tentativa deste, contra a pessoa de cuja sucessão se tratar, seu cônjuge, companheiro, ascendente ou descendente; II – que houverem acusado caluniosamente em juízo o autor da herança ou incorrerem em crime contra a sua honra, ou de seu cônjuge ou companheiro; III – que, por violência ou meios fraudulentos, inibirem ou obstarem o autor da herança de dispor livremente de seus bens por ato de última vontade. De vez em quando vemos notícias de um filho que mata ou tenta matar um ou ambos os pais. Esses filhos não terão direito à herança deixada pelo falecido, não importa o valor do patrimônio e nem a situação em que se encontrar o autor do crime, mesmo que extremamente necessitado de dinheiro. Apesar do previsto em lei, a perda do direito à herança não será automática, devendo haver uma declaração pela Justiça, como estabelece o artigo 1.815 do Código Civil: A exclusão do herdeiro ou legatário, em qualquer desses casos de indignidade, será declarada por sentença. Uma questão que surge em meio ao assunto diz respeito ao menor de idade que mata ou tenta matar os pais. Como, tecnicamente, o menor não comete um crime, mas sim um “ato infracional”, mesmo assim ele também será excluído do direito à herança? O tema tem suscitado muitas discussões na Justiça, sendo, infelizmente, por mais horrendo, um ato não raro de acontecer, que é um filho menor retirar a vida do pai ou mãe. A 3ª turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, em recurso especial relatado pela ministra Nancy Andrighi, decidiu que menor de idade que matou os pais não tem direito a herança. No entendimento do colegiado, a regra que exclui da sucessão os autores, coautores ou partícipes de homicídio doloso contra a pessoa de cuja sucessão se tratar também vale para o herdeiro menor de idade, embora seus atos sejam tecnicamente definidos como “análogos ao homicídio doloso”.[1] O autor do crime, que à época do assassinato contava com pouco menos de dezoito anos de idade, defendeu que o dispositivo tem interpretação taxativa e, ao tratar de casos de homicídio doloso, não pode ser estendida ao ato infracional análogo ao homicídio doloso, porém o STJ não acolheu o argumento e concluiu que é juridicamente possível o pedido de exclusão da sucessão do herdeiro que tirou a vida dos pais, mesmo na hipótese em que se trata de ato cometido por adolescente. [1] www.migalhas.com.br/quentes/360830/stj-menor-de-idade-que-mata-os-pais-nao-tem-direito-a-heranca Sérgio Carlos de Souza, fundador e sócio de Carlos de Souza Advogados, autor dos livros “101 Respostas Sobre Direito Ambiental” e “Guia Jurídico de Marketing Multinível”, especializado em Direito Empresarial, Recuperação de Empresas e Ambiental. Artigo publicado pelo Jornal Online Folha Vitória: https://www.folhavitoria.com.br/geral/blogs/direito-ao-direito/2022/03/08/exclusao-do-direito-de-heranca/
Em recente decisão sobre conflito de competência, o Superior Tribunal de Justiça – STJ retomou a pauta sobre casos de prescrição de medicação off-label e seu fornecimento pelo Sistema Único de Saúde. Embora o julgamento referido aborde questão de técnica jurídica – a competência da justiça estadual ou da justiça federal -, o fato é que, independentemente de qual das esferas enfrente o julgamento do pedido dessa natureza, o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE 855.178, vinculado ao Tema 793, já definiu que “o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles, em conjunto ou isoladamente”. Tal decisão garante o direito constitucional do cidadão à vida e à manutenção de sua saúde, devendo obter do Estado o tratamento indicado pelo médico assistente, mais adequado à enfermidade, independentemente de estar na lista dos remédios fornecidos pelo SUS. Mas, o que é medicação off-label? De acordo com o art. 3º da RN 424/2017 da Agência Nacional de Saúde, “o medicamento chamado off-label é aquele cuja indicação do profissional assistente diverge do que consta na bula. Já o material off-label é aquele cuja indicação de profissional assistente diverge do que consta no manual de uso do material”. Longe de tecer aqui comentários de natureza médica e/ou científica, mas atentos exclusivamente aos direitos do cidadão ao tratamento adequado e à necessidade de buscar tratamento mediante ajuizamento de ações competentes, cumpre esclarecer que, via de regra, o Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos não registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), pois tal registro “constitui proteção à saúde pública, atestando a eficácia, segurança e qualidade dos fármacos comercializados no país, além de garantir o devido controle de preços”. [1] Dito isso, é necessário esclarecer que há medicamentos experimentais, ou seja, sem comprovação científica de eficácia e segurança, e ainda em fase de pesquisas e testes e há também aqueles que, apesar do registro, são indicados para doenças específicas, mas paralelamente podem ser usados em tratamentos de enfermidades não previstas, testadas ou indicadas cientificamente. Adicionalmente, há medicamentos com eficácia e segurança comprovadas e testes concluídos, conforme diretrizes e exigências legalmente estabelecidas, mas ainda sem registro na ANVISA, por diversos motivos, inclusive demora na apreciação do pedido pelo laboratório. Com efeito, quando o medicamento tiver pedido de registro no Brasil, registro solicitado em renomadas agências de regulação no exterior (e.g., EUA, União Europeia e Japão) e inexistência de substituto terapêutico registrado na ANVISA, é possível que seja apreciada, judicialmente, a determinação de seu fornecimento ao cidadão. Há ainda casos em que, como dito, o medicamento necessário, ainda que para uso off-label, tem registro na ANVISA, mas uso e finalidade distintos daquele ao ser indicado ao cidadão, ou seja, não é indicado para determinada enfermidade, sendo possível, portanto, igualmente, com base em laudo médico especifico, solicitar o seu fornecimento por via judicial. [1] RECURSO EXTRAORDINÁRIO 657.718 Chrisciana Oliveira Mello, sócia de Carlos de Souza Advogados, aluna especial do curso de mestrado em Processo Civil da Universidade Federal do Espírito Santo. Artigo publicado pelo Jornal Online Folha Vitória: https://www.folhavitoria.com.br/geral/blogs/direito-ao-direito/2022/03/07/obrigacao-do-sus-de-fornecer-medicamentos-off-label/
Clique no link e confira o Boletim: http://r.mkt.carlosdesouza.com.br/3gd4488jgclpfe.html?t=1646414982
O prazo para entrega da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda sobre a Pessoa Física (IRPF), inicia-se no dia 7 de março, próxima segunda-feira, e os contribuintes devem ficar atentos ao seu preenchimento, se quiserem aproveitar as isenções e deduções que resultam em redução do imposto. De acordo com a Instrução Normativa RFB nº 2.065, de 24 de fevereiro de 2022, a data limite para entrega da Declaração é o dia 29 de abril de 2022, o que, em número de dias, representa um prazo apertado. Dessa forma, aconselha-se que os documentos, como notas fiscais, informes de rendimentos e outros, sejam previamente organizados para que nenhuma informação seja omitida. A própria lei prevê fatos que afastam a tributação pelo IRPF. Por exemplo, o contribuinte que tiver completado 65 (sessenta e cinco) anos que receba rendimentos provenientes de aposentadoria e pensão, de transferência para a reserva remunerada ou de reforma, até o valor de R$ 1.903,98. Também são isentos os bens adquiridos por herança ou doação, os seguros recebidos de entidades de previdência privada decorrentes de morte ou invalidez permanente, indenizações por acidente de trabalho e os proventos recebidos por portadores de moléstias graves, definidas pela lei. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5422, reconheceu a inconstitucionalidade da incidência do IRPF sobre os valores recebidos a título de pensão alimentícia, quando fundados no direito de família, o que resultou no afastamento da tributação da verba mencionada. Por outro lado, a lei permite a dedução de algumas despesas do cálculo do IRPF, como a despesa com o pagamento em dinheiro da pensão alimentícia, também decorrente do direito de família. Despesas com saúde e educação também poderão ser deduzidas. Os contribuintes devem estar atentos ao prazo de entrega da Declaração, pois o atraso na entrega sujeita o contribuinte a multa. Outro ponto de atenção está relacionado à guarda dos documentos comprobatórios das informações lançadas, pois, caso haja qualquer questionamento por parte da Receita Federal, será possível demonstrar a correção da Declaração. Mariana Martins Barros é advogada tributária, sócia coordenadora da área tributária do Escritório Carlos de Souza Advogados e membro da Comissão de Direito Tributário da OAB/ES. Artigo publicado pelo Jornal Online Folha Vitória: https://www.folhavitoria.com.br/geral/blogs/direito-ao-direito/2022/03/04/chegou-a-hora-de-fazer-a-declaracao-do-imposto-de-renda/
A resposta, quando se trata de relação de consumo, é: depende! A regra geral, prevista no Código de Processo Civil (lei que regula formação e o desenvolvimento do processo) diz que compete a quem alega determinada situação, prová-la. Em outras palavras, quem acusa tem a obrigação de provar as acusações feitas. Esta é a regra geral. Todavia, deve se ter em mente que, ao se tratar de demanda onde há de um lado o paciente e do outro um médico (ou hospital), estaremos diante de uma clara relação de consumo, regulamentada, portanto, pela Lei 8.078/90, conhecida como Código de Defesa do Consumidor, e a lei do consumidor traz uma exceção à regra sobre sobre a obrigação do autor da demanda provar. A referida lei, o Código do Consumidor, prevê em seu art. 6º, VIII que a obrigação na produção da prova poderá (isto mesmo, é uma possibilidade!) ser imputada ao fornecedor do serviço, no caso ao médico, quando configuradas a verossimilhança da alegação do consumidor e sua hipossuficiência técnica (e algumas vezes financeira). Em resumo, a verossimilhança é a coerência entre os fatos narrados e a existência de suposto erro, ao passo que, a hipossuficiência é a ausência de condições (conhecimentos) técnicos ou financeiros para a produção da prova necessária ao caso. Logo, ao contrario do que muitos pensam a benesse legal não é de plano aplicável, devendo, necessariamente, estar presente na relação firmada a plausabilidade do que foi alegado (no caso mais especifico, a ocorrência de erro médico) e a impossibilidade técnica do consumidor em produzir a referida prova. Por isso, a resposta para a pergunta que dá título a este artigo, é: DEPENDE! O consumidor deve trazer com suas alegações, ao menos indícios de que faz jus ao direito que alega possuir para que o Juiz, de acordo com sua experiência, conceda a inversão do ônus da prova. Inversão do ônus da prova significa transferir a responsabilidade de provar as acusações, que deixaria de ser do paciente e passaria ao médico, que no caso teria que provar que os fatos não se deram da forma como o paciente alega. Assim, invertido o ônus da prova, competirá ao réu a comprovação de que não praticou as condutas que lhe forem imputadas como ilícitas ou causadoras de danos. Rovena Roberta S. Locatelli Dias, sócia de Carlos de Souza Advogados, especializada em Direito Civil, Médico, Comercial e Imobiliário. Artigo publicado pelo Jornal Online Folha Vitória: https://www.folhavitoria.com.br/geral/blogs/direito-ao-direito/2022/03/03/quem-alega-a-existencia-de-erro-medico-tem-que-provar-2/
Na última quarta-feira, dia 16/02/2022, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei nº 2.058/2021, que altera algumas disposições contidas na Lei 14.151/2021 que determinava o afastamento das gestantes do trabalho presencial. Desde a publicação da Lei 14.151/2021, muito se discutiu sobre referida lei, em especial, no que diz respeito à atribuição ao empregador da responsabilidade quanto à garantia do recebimento da remuneração da empregada gestante durante o período de afastamento quando, pela natureza dos serviços prestados, não fosse possível a realização de atividades laborais à distância. Com a aprovação do PL 2.058/2021 – que segue para a sanção presidencial -, contudo, algumas regras previstas na Lei 14.151/2021 foram alteradas, tendo, de certa forma, “corrigido” uma falha da lei ao não prever, justamente, a hipótese de a empregada gestante, em razão de suas atividades, estar impossibilitada de realizar seu trabalho de forma remota, sem impor ao empregador – de forma injusta -, a manutenção da integralidade da remuneração da gestante. Assim, de acordo com o texto aprovado pela Câmara dos Deputados, o afastamento será garantido apenas às gestantes que ainda não tenham sido totalmente imunizadas na forma prevista pelo plano nacional de vacinação do Ministério da Saúde. Com efeito, considerando os termos do substitutivo aprovado, salvo na hipótese de o empregador entender por bem manter a atividade de forma remota, devera a empregada gestante retornar ao trabalho presencial nas seguintes hipóteses: (i) encerramento do estado de emergência; (ii) imunização completa de acordo com as determinações do Ministério da Saúde; (iv) se a empregada se recusar a se vacinar, devendo assinar um termo de responsabilidade ou, ainda; (v) na hipótese de aborto espontâneo, com recebimento de salário maternidade nas duas semanas de afastamento, de acordo com a CLT. De acordo com o texto da PL 2.058/2021, a opção por não se vacinar é uma forma legítima de expressar o direito à liberdade individual, não podendo ser imposta pelo empregador, pelo que, nesta hipótese, a empregada gestante opte por não ser vacinada, deverá assinar um termo de responsabilidade e de livre consentimento para o trabalho presencial, comprometendo-se a observar as normas de higiene e segurança orientadas pelo empregador. Ainda de acordo com o texto aprovado pela Câmara dos Deputados, acaso a empregada gestante não tenha completado o esquema de imunização e não houver possibilidade de suas atividades serem exercidas à distância, a situação será considerada como de gravidez de risco até que complete a imunização. Durante esse período, a gestante será contemplada com o salário maternidade pelo período de 120 dias. Vale ressaltar que o texto ainda aguarda a sanção presidencial. Rodrigo Silva Mello e Roberta Conti R. Caliman, sócios de Carlos de Souza Advogados, são especializados em Direito Trabalhista. Artigo publicado pelo Jornal Online Folha Vitória: https://www.folhavitoria.com.br/geral/blogs/direito-ao-direito/2022/02/24/camara-aprova-regras-que-mudam-o-trabalho-de-gestantes-na-pandemia/
Extradição é uma medida de cooperação entre Estados Soberanos, através da qual um Estado requer a entrega de um indivíduo que se encontra em outro Estado, para que, naquele, seja processado, julgado ou até para a execução de uma pena. Por ser um ato de entrega, entende-se que é uma saída compulsória do estrangeiro, visto que se faz obrigatório que a pessoa, após o devido processo legal de extradição, seja enviada ao Estado requerente. Atualmente, a título informativo, o Brasil tem tratado de extradição firmado, dentre vários países, com: Argentina, Bélgica, China, Estados Unidos da América, França, Itália, Mercosul, Portugal, Reino-Unido e Irlanda do Norte. A extradição se divide em ativa e passiva. Em suma, a extradição ativa ocorre quando o governo brasileiro requer a extradição de uma pessoa que não está em seu território, ou seja, de uma pessoa considerada foragida da Justiça brasileira que se encontra em outro Estado soberano. Já na extradição passiva, ocorre o inverso, ou seja, um país solicita ao governo brasileiro a extradição de uma pessoa foragida que se encontra no Brasil. A Constituição Federal assegura que nenhum brasileiro nato será entregue pelo governo brasileiro a outro Estado soberano. É de se esclarecer que brasileiro nato não pode ser extraditado, a não ser nos casos que o façam perder a nacionalidade. Com o tempo, os Estados Soberanos se viram com a necessidade de regular os respectivos processos de extradição, o que culminou na elaboração de diversos tratados definindo os requisitos para que a extradição seja efetivada. Como exemplo, é possível citar, entre inúmeros: o tratado de amizade entre Brasil e Portugal, que versa sobre como o processo de extradição deve ocorrer; o Acordo de Extradição entre os Estados Partes do Mercosul; o Tratado de extradição firmado entre Brasil e Itália. Entretanto, quando não há nenhuma norma que trate sobre o assunto, no caso dos pedidos feitos ao Brasil, o pedido será instruído com os documentos previstos na Lei nº 6.815/1980 e Lei nº 13.445/2017 (Lei de Migração), devendo ser observada a promessa de reciprocidade para casos análogos, que poderá ser recusado por diversos motivos, devendo cada solicitação de extradição ser observada de forma individual. O procedimento na extradição ativa se inicia quando o Poder Judiciário envia ao Ministério da Justiça a documentação relativa ao pedido, devendo realizar a análise de admissibilidade dos documentos, com o fim de verificar se está de acordo com o previsto no tratado entre as partes ou no Estatuto do Estrangeiro e na Lei de Migração. Havendo o deferimento e aprovação da documentação, o pedido é enviado ao Ministério das Relações Exteriores ou à Autoridade Central Estrangeira, a fim de ser formalizado ao país onde se encontra o foragido da Justiça brasileira. Ocorrendo o deferimento do pedido de extradição pelo país requerido, o Brasil deverá retirar o extraditando do respectivo Estado Soberano no prazo previsto no tratado, ou na falta deste, na data estipulada e acordada entre as partes. Se a retirada não for realizada, a pessoa poderá ser colocada em liberdade, não sendo possível haver a requisição da extradição pelos mesmos motivos. Já na extradição passiva, o Ministério da Justiça e Segurança Pública recebe, na maioria dos casos, por via diplomática, o pedido de extradição. Após recebimento, o Ministério da Justiça realiza o juízo de admissibilidade. Estando o pedido em total conformidade, deverá ser encaminhado ao Supremo Tribunal Federal (STF), sendo este o Órgão competente para análise e aprovação, de acordo com a Constituição Federal, art. 102, inciso I, alínea “g”. Sendo deferida a extradição pelo STF, o país que requereu terá um prazo – estabelecido por tratado ou pelo acordo entre as partes, na falta daquele -, para retirar o indivíduo do território nacional. Se assim não for feito, o indivíduo deverá ser colocado em liberdade pelo Governo brasileiro. Samuel Lourenço Kao Yien, associado de Carlos de Souza Advogados, atua na área de Direito Criminal. Artigo publicado pelo Jornal Online Folha Vitória: https://www.folhavitoria.com.br/geral/blogs/direito-ao-direito/2022/02/23/processo-de-extradicao-no-direito-brasileiro/
Entre as diversas obrigações que uma empresa tem, está o pagamento dos tributos. Os tributos são constituídos por impostos, taxas e contribuições e podem ser devidos às três esferas: União, Estados e Municípios. Apesar de a carga tributária brasileira ser uma das maiores do mundo e a população, em grande parte, não perceber a melhor aplicação dos valores arrecadados, o fato é que não se pode fugir dos deveres tributários direcionados às empresas. Há muitas situações em que os tributos devidos não são pagos: falta de recursos, má orientação ou a simples ausência da vontade de pagar. Se uma empresa se torna devedora tributária, o fisco pode, depois dos trâmites administrativos, ajuizar uma execução fiscal visando compelir a empresa a pagar e, permanecendo a inadimplência, tomar os seus bens, inclusive dinheiro em contas. Nem sempre, contudo, as empresas têm bens para arcar com as execuções fiscais. O que acontece nesses casos? É possível que os sócios respondam pessoalmente pelas dívidas tributárias? O Código Tributário Nacional prevê as hipóteses em que o sócio administrador, os diretores ou os administradores serão responsabilizados, não bastando a falta de pagamento para exigir destes o pagamento dos débitos. É necessário, para incluir o sócio como responsável pelo pagamento de tributos devidos pela empresa, que ele pratique atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos. Já no âmbito do Poder Judiciário, o Superior Tribunal de Justiça – STJ editou a súmula 430, que assevera que “O inadimplemento da obrigação tributária não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente”. Referida súmula está em absoluta consonância com os artigos 134 e 135 do CTN, na medida em que as normas preveem conduta ativa ou omissiva do agente a ser responsabilizado, sendo que essa conduta deverá ser comprovada pelo agente fiscal em processo administrativo: Art. 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este nos atos em que intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis: Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos: I – as pessoas referidas no artigo anterior; II – os mandatários, prepostos e empregados; III – os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado. Nesse cenário, o empresário deve ter a cultura da prevenção e tomar cuidados que podem evitar a invasão de seu patrimônio pessoal em caso de débitos tributários da pessoa jurídica. Isso porque, embora as empresas, em sua maioria, sejam constituídas com a responsabilidade limitada ao patrimônio da pessoa jurídica, algumas condutas podem levar à responsabilização do sócio, como anteriormente mencionado. Assim, o empresário deve estar atento para que não haja confusão entre o patrimônio do sócio e da empresa, evitando-se o pagamento de contas pessoais com o caixa da empresa, e vice-versa, evitando-se a configuração da fraude e, até mesmo, de crime contra a ordem tributária. A contabilidade deve ser mantida em boa ordem e guardada enquanto não decorridos os prazos decadencial e prescricional. Tais medidas têm como objetivo afastar a responsabilidade do sócio por eventual débito tributário. Aconselha-se que todos os atos sejam documentados para que não se configure excesso de poderes ou infração por parte do sócio. Outro fato que leva à responsabilidade pessoal do sócio é a dissolução irregular da sociedade, que se configura quando a empresa fecha as portas sem que seja feita a devida baixa. Poucos sabem que a empresa pode ser baixada regularmente mesmo que possua dívidas tributárias, previdenciárias ou trabalhistas, principais ou acessórias, do empresário, da sociedade, dos sócios, dos administradores ou de empresas de que participem, nos termos previstos no artigo 9o da Lei Complementar no 123/2006. Dessa forma, a proteção mais eficaz para o patrimônio do sócio é a adoção de medidas no cotidiano da atividade empresarial, que previnam a transferência da responsabilidade tributária pelas obrigações de titularidade da pessoa jurídica para a pessoa física. Sérgio Carlos de Souza, fundador e sócio de Carlos de Souza Advogados, autor dos livros “101 Respostas Sobre Direito Ambiental” e “Guia Jurídico de Marketing Multinível”, especializado em Direito Empresarial, Recuperação de Empresas e Ambiental. Mariana Martins Barros é advogada tributária, sócia coordenadora da área tributária do Escritório Carlos de Souza Advogados e membro da Comissão de Direito Tributário da OAB/ES. Artigo publicado pelo Jornal Online Folha Vitória: https://www.folhavitoria.com.br/geral/blogs/direito-ao-direito/2022/02/22/responsabilidade-dos-socios-pelo-pagamento-de-tributos/
Imaginemos a situação em que “Ricardo” (promitente-comprador) firma uma promessa de compra e venda de um lote (sem qualquer edificação), junto à empresa “X”. “Ricardo” obrigou-se ao pagamento do valor, parcelado em 60 meses. Ao término do contrato, “Ricardo” construiria a casa de seus sonhos. Ocorre que, depois de 1 ano pagando as parcelas, “Ricardo” perdeu sua única fonte de renda e como não mais iria conseguir pagar as prestações, decidiu desfazer o negócio e pedir a restituição dos valores que havia pagado. Pergunta-se: é possível que a empresa “X” cobre taxa de ocupação do imóvel? Sem dúvidas, inúmeras pessoas passaram por situação similar, especialmente durante a pandemia de COVID-19, que afetou e ainda tem afetado diretamente as relações jurídicas estabelecidas, afinal, vimos milhares de pessoas perderem seus postos de trabalho e terem de adiar momentaneamente o sonho da casa própria. Antes de respondermos à indagação feita acima, é importante destacarmos que o desfazimento do negócio jurídico da compra e venda de imóvel, especialmente na hipótese de sua resilição pelo comprador, obriga que as partes retornem ao estado anterior à celebração do contrato, com a devolução do bem ao promitente-vendedor e a restituição das parcelas pagas ao promitente-comprador (com a retenção de um percentual estabelecido no contrato em favor do vendedor). Dito isto, nos contratos de compra e venda de imóveis residenciais, em caso de rescisão do contrato e o retorno à situação originária, caso o comprador utilize o bem para sua moradia, deverá apresentar contraprestação mediante o pagamento de aluguéis ao vendedor pelo tempo de permanência no imóvel. Ou seja, se o imóvel adquirido por “Ricardo” estivesse edificado e nele residindo “Ricardo” e seus familiares, neste caso, ante a manifestação de desistência da compra do imóvel, seria devido o pagamento de aluguel ao vendedor (como taxa de ocupação), sem prejuízo da cobrança de uma multa pelo desfazimento do negócio. Isso porque a não cobrança da taxa de ocupação ocasionaria um aproveitamento de “Ricardo” às custas da empresa “X” (enriquecimento ilícito). Contudo, na hipótese narrada acima, o terreno não está edificado, sem construção alguma, de modo que não existe a possibilidade de “Ricardo” estar residindo no imóvel com sua família. Ou seja, nem “Ricardo” usufruiu do imóvel tampouco a empresa “X” auferiria proveito com a cessão de seu uso e posse. Neste caso, não seria possível a cobrança de taxa de ocupação por parte da empresa “X”, visto que não houve a utilização do imóvel no intervalo de tempo em que “Ricardo” efetuou o pagamento das parcelas. O caso retratado foi submetido à apreciação do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.936.470-SP), que entendeu que na rescisão de contrato de compra e venda de imóvel residencial não edificado, o comprador não pode ser condenado ao pagamento de taxa de ocupação. Por fim, diante do desfazimento de negócios como o narrado nesta oportunidade, devem as partes colaborar e negociar o encerramento contratual justo e adequado, evitando-se discussões judicias intermináveis e custosas. David Roque Dias, associado de Carlos de Souza Advogados, especializado em Direito Civil, Contratos e Assuntos Societários. Artigo publicado pelo Jornal Online Folha Vitória: https://www.folhavitoria.com.br/geral/blogs/direito-ao-direito/2022/02/21/taxa-de-ocupacao-em-caso-de-rescisao-de-compra-e-venda-de-imovel-residencial/