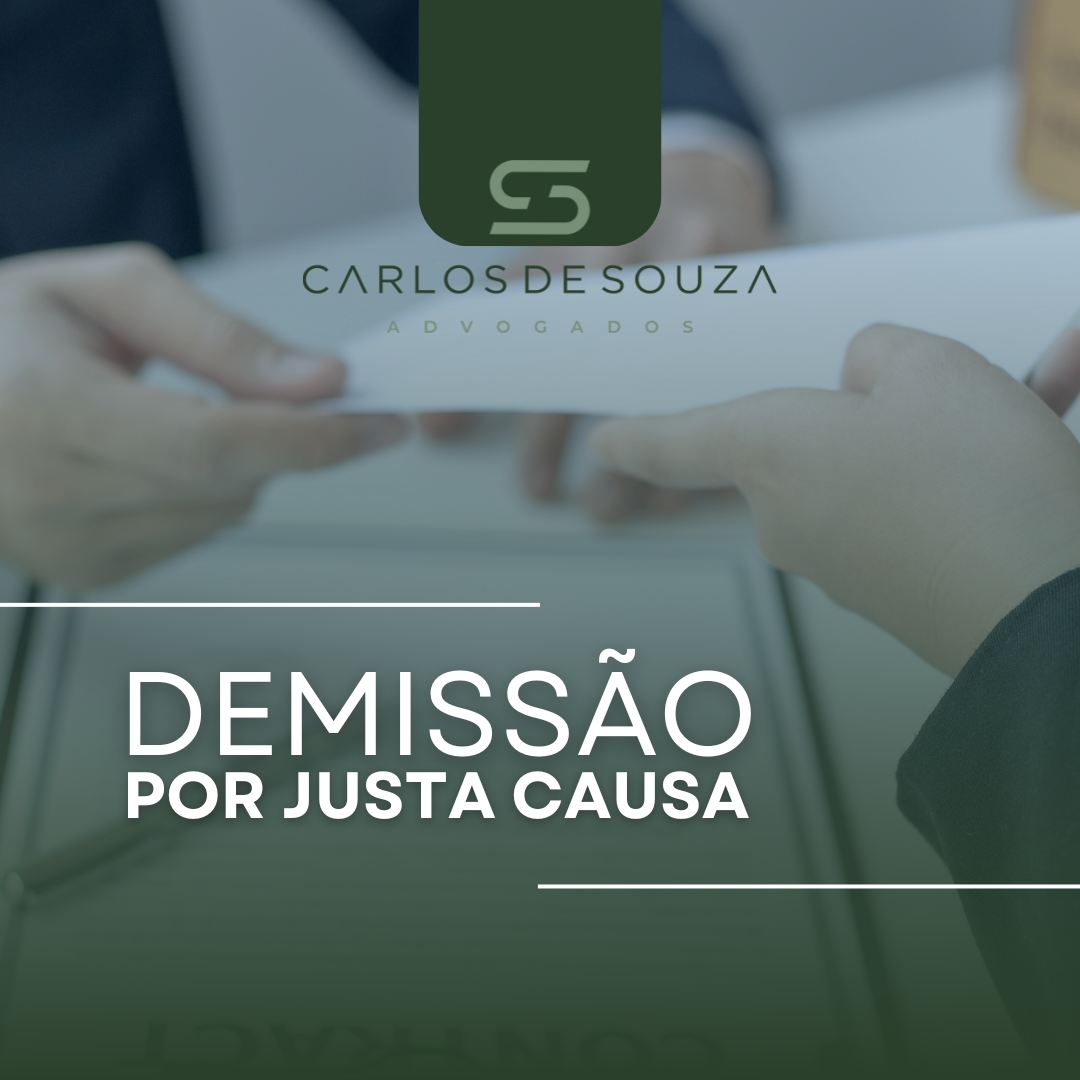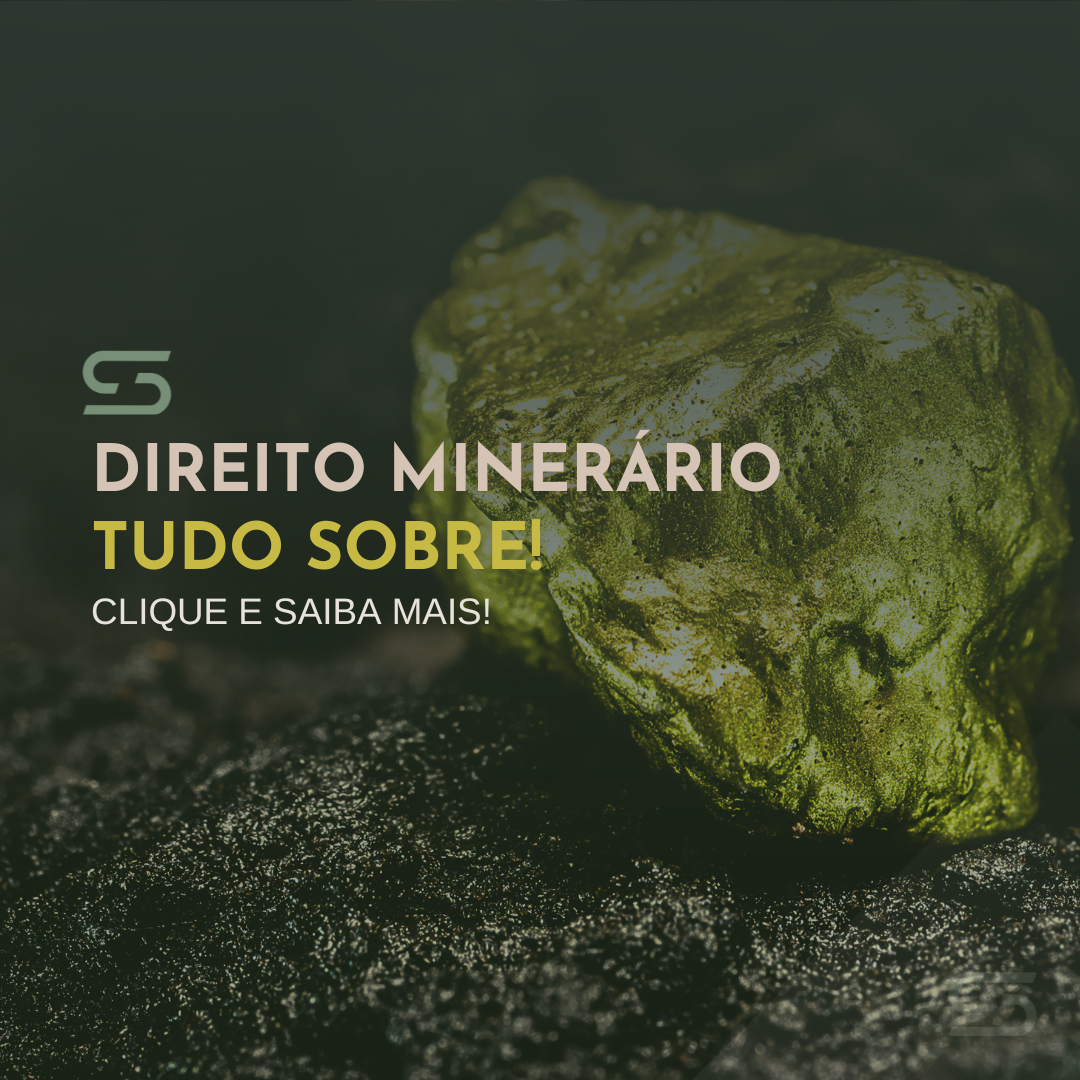Entende-se por Nexo Técnico Epidemiológico o método aplicado pelo INSS para a identificação da relação existente entre determinadas doenças que surgem no trabalhador com a atividade desempenhada. Em suma, serve para saber se a doença existente surgiu em razão do tipo de trabalho e esforço desempenhado na função executada. Com base neste referido método, o INSS pode reconhecer administrativamente que a doença surgida no empregado originou-se do trabalho executado. Após referido reconhecimento na esfera administrativa, muitos empregados ajuizam ações trabalhistas contra o empregador, visando o reconhecimento de sua doença como ocupacional também na esfera judicial para obtenção de vantagens que faz jus o empregado nesta condição. Como argumento, os trabalhadores nesta situação alegam que já haveriam provas suficientes de que a doença seria ocupacional dado ao reconhecimento do Nexo Técnico Epidemiológico, realizado pelo INSS. No entanto, no processo judicial, é direito das partes a produção de prova pericial, ou seja, um especialista no assunto, nomeado pelo juiz, avaliará o trabalhador em exame físico, a situação relatada pelo empregado e empregador, as provas documentais nos autos tais como exames, laudos médicos, receituários, entre outros, e fará a perícia chegando às suas conclusões técnicas sobre se a doença alegada pelo empregado possui ou não a chamada “relação de causalidade” com a atividade desempenhada. O TST, em recente decisão proferida no processo nº ARR-10915-17.2016.5.18.0101, manifestou entendimento sobre um impasse surgido exatamente sobre este assunto: o empregado alegou que a doença era ocupacional com base no entendimento do INSS. O empregador, por seu turno, sustentou que a doença não era em decorrência do trabalho porque o perito nomeado pelo juízo concluiu que não havia relação do trabalho exercido com a referida doença. Em sentença, o juiz decidiu com base no laudo pericial produzido neste processo, julgando improcedentes os pedidos realizados. Em 2ª instância, o TRT da 18ª Região (GO), concluiu que, se a doença adquirida pela trabalhadora se enquadra naquelas com nexo técnico epidemiológico previstos pelo INSS no Decreto 3.048/1999 que regula a Lei nº 8212/91, o nexo causal está estabelecido por presunção legal. O TST, por sua vez, reformou a decisão de 2ª instância, reestabelecendo a decisão de 1º grau, por violação ao artigo 21-A da Lei nº 8.213/1991, o qual estabelece que o nexo técnico epidemiológico previdenciário representa “mero indício de relação de causa e efeito entre a atividade empresarial e a doença incapacitante elencada na Classificação Internacional de Doenças (CID).” Portanto, entendeu a Corte Superior que a decisão do INSS, aplicando o Nexo Técnico Epidemiológico, gera apenas uma presunção relativa de ligação/relação entre a doença do empregado e as atividades profissionais, ou seja, tal presunção pode ser derrubada, por exemplo, por uma perícia judicial realizada no processo, medida inclusive ideal, visando atender os princípios do contraditório e ampla defesa, já que também é direito do empregador se defender sobre esta presunção de que sua atividade causou danos ao empregado, permitindo assim ao empregador, participar ativamente da instrução processual e perícia, diferentemente do que ocorreu na esfera administrativa quando houve o reconhecimento do Nexo Técnico Epidemiológico. Rodrigo Silva Mello e Roberta Conti R. Caliman, sócios de Carlos de Souza Advogados, são especializados em Direito Trabalhista. Artigo publicado pelo Jornal Online Folha Vitória: https://www.folhavitoria.com.br/geral/blogs/direito-ao-direito/2021/12/14/o-nexo-tecnico-epidemiologico-nao-serve-para-comprovar-doenca-ocupacional-na-esfera-judicial/
Introdução O conceito clássico de responsabilidade criminal remete a uma pessoa natural, ou física. Mesmo quando um crime envolve diretamente uma pessoa jurídica, os seus agentes internos que tiverem relação com o ilícito penal é que responderão diante da Justiça. Esta é a regra. Contudo, a regra é excepcionada pelos crimes ambientais, que podem levar uma pessoa jurídica a sofrer condenações criminais. Logicamente não há como colocar uma empresa numa cela; mas é possível condená-la criminalmente a penas de multas, restrição de direitos e prestação de serviços. Meio Ambiente Meio ambiente envolve todas as coisas vivas e não vivas que ocorrem na Terra, ou em alguma região dela, que afetam os ecossistemas e a vida dos humanos. É o conjunto de componentes físicos, químicos, biológicos e sociais capazes de causar efeitos diretos ou indiretos, em um prazo curto, médio ou longo, sobre os seres vivos e as atividades humanas em todos os seus aspectos. Consciência Ambiental Consciência ambiental pode ser definida como o conjunto de ações de uma pessoa, comunidade ou ente público ou privado, cujo objetivo é preservar, proteger e recompor o meio ambiente em seus mais amplos conceitos. Responsabilização Criminal das Pessoas Jurídicas A Constituição Federal, no parágrafo 3º de seu artigo 225, prevê que: As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. Posteriormente veio a Lei nº 9.605 (Lei de Crimes Ambientais), em 1998, que estabeleceu eu seu artigo 3º: As pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil e penalmente conforme o disposto nesta Lei, nos casos em que a infração seja cometida por decisão de seu representante legal ou contratual, ou de seu órgão colegiado, no interesse ou benefício da sua entidade. Durante muitos anos houve uma discussão a respeito da inconstitucionalidade do artigo 3º da Lei de Crimes Ambientais. Uma corrente defendia que a Constituição não previa, de forma taxativa, a existência de crimes ambientais praticados por pessoas jurídicas; segundo essa linha, o parágrafo 3º do artigo 225 da CF apenas estendia às pessoas jurídicas as penalidades administrativas pelas infrações ambientais, mas jamais a criminal; esse pensamento asseverava que não haveria como incriminar uma empresa se os seus agentes já estavam sendo também responsabilizados criminalmente. Contudo, depois de muita discussão, os tribunais superiores pacificaram o entendimento de que o citado artigo da Lei de Crimes Ambientais é totalmente constitucional. Segue um trecho de uma decisão do Superior Tribunal de Justiça: “Se a pessoa jurídica tem existência própria no ordenamento jurídico e pratica atos no meio social através da atuação de seus administradores, poderá vir a praticar condutas típicas e, portanto, ser passível de responsabilização penal. A culpabilidade, no conceito moderno, é a responsabilidade social, e a culpabilidade da pessoa jurídica, neste contexto, limita-se à vontade do seu administrador ao agir em seu nome e proveito. (…) A Lei Ambiental previu para as pessoas jurídicas penas autônomas de multas, de prestação de serviços à comunidade, restritivas de direitos, liquidação forçada e desconsideração da pessoa jurídica, todas adaptadas à sua natureza jurídica. Não há ofensa ao princípio constitucional de que ´nenhuma pena passará da pessoa do condenado…´, pois é incontroversa a existência de duas pessoas distintas: uma física – que de qualquer forma contribui para a prática do delito – e uma jurídica, cada qual recebendo a punição de forma individualizada, decorrente de sua atividade lesiva”. As penas aplicáveis isolada, cumulativa ou alternativamente às pessoas jurídicas, são: I – multa; II – restritivas de direitos; III – prestação de serviços à comunidade. As penas restritivas de direitos da pessoa jurídica são: I – suspensão parcial ou total de atividades; II – interdição temporária de estabelecimento, obra ou atividade; III – proibição de contratar com o Poder Público, bem como dele obter subsídios, subvenções ou doações. Já as penas de prestação de serviços à comunidade pela pessoa jurídica consistirão em: I – custeio de programas e de projetos ambientais; II – execução de obras de recuperação de áreas degradadas; III – manutenção de espaços públicos; IV – contribuições a entidades ambientais ou culturais públicas. Importante destacar que, além da responsabilização criminal, as pessoas jurídicas responderão também administrativa e civilmente pelas infrações cometidas. A responsabilidade administrativa, ao contrário da criminal – que é estabelecida por um juiz -, é fixada pela autoridade competente, federal, estadual ou municipal, conforme o caso. Portanto, é possível, sim, que a pessoa jurídica tenha o mesmo tipo de penalidade (uma multa, por exemplo) estabelecida por um juiz e pelo órgão ambiental; são esferas distintas e que podem apenar conjuntamente. Já a responsabilização civil decorre de consequências práticas que a infração ambiental tiver ocasionado, como destruição de casas, plantações e propriedades em geral. Sérgio Carlos de Souza, fundador e sócio de Carlos de Souza Advogados, autor dos livros “101 Respostas Sobre Direito Ambiental” e “Guia Jurídico de Marketing Multinível”, especializado em Direito Empresarial, Recuperação de Empresas e Ambiental. Artigo publicado pelo Jornal Online Folha Vitória: https://www.folhavitoria.com.br/geral/blogs/direito-ao-direito/2021/12/13/crimes-ambientais-cometidos-por-pessoas-juridicas-2/
Clique no link e confira o Boletim: http://r.mkt.carlosdesouza.com.br/3gc26w8jgclpfe.html?t=1639144220
O que são criptoativos? Os Criptoativos já estão em circulação há mais de uma década desde o lançamento da primeira Criptomoeda em 2009, o Bitcoin. A primeira e mais famosa Criptomoeda pavimentou o caminho para o desenvolvimento de um mercado que hoje já ultrapassa 2 trilhões de dólares, segundo o Fundo Monetário Internacional – FMI, contando com mais de 10.000 opções de Criptomoedas, sendo que só o Bitcoin concentra quase 50% do total capitalizado desse mercado. Em resumo, os Criptoativos são programas sofisticados baseado em criptografia que comumente utilizam-se da tecnologia de “blockchain” para formar uma rede para transações entre os usuários sem a necessidade da intermediação do Banco Central ou de uma instituição financeira, pois toda operação ocorre através da rede mundial de computadores. O valor de uma moeda gerada na rede reside na confiança que os usuários têm na tecnologia de criptografia da moeda e varia obedecendo às regras de oferta e demanda, sendo que uma única moeda de Bitcoin atualmente é negociada pelo valor de aproximadamente 58 mil dólares, e a Ethereum cerca de 4,7 mil dólares. Muitos investidores as enxergam como uma alternativa ao sistema financeiro tradicional, acreditando que os Criptoativos irão substituir o dinheiro usado no dia a dia, ou as utilizam como reserva de valor para se protegerem da desvalorização de suas moedas nacionais, assim como muitos também as negociam para especular e lucrar com o sobe e desce dos preços. Criptoativos não são só Criptomoedas Importante frisar que Criptoativos não englobam só as criptomoedas. Trata-se de um conjunto de ferramentas que forma uma cadeia de mercados com milhões de possibilidades de capitalização, como os NFT’s (Non Fungible Tokens – Tokens não fungíveis), que atribuem direito a bens materiais ou digitais, Token Utilities (Token de utilidades), voltado para acesso a serviços específicos, assim como tokens vinculados a ativos reais ou direitos sobre recebíveis, dentre outros. Na rede Ethereum, por exemplo, é possível criar os chamados “Smart Contracts” (Contratos Inteligentes), que, conforme informa o próprio site ethereum.org, são um tipo de conta que tem um saldo que pode ser transacionado através da rede, porém esta conta não é controlada por um usuário, ao invés disso é inserida na rede como um programa onde usuários podem então interagir com o contrato inteligente que irá executar uma função definida no contrato programado. Contratos inteligentes podem então definir regras, como regular contratos e automaticamente executá-los via código, além de não poder ser deletado, sendo que as interações com os contratos são irreversíveis, o que traz segurança para as transações, tudo isso dentro de um ambiente descentralizado conhecido como “Decentralized Finance” (Finanças Descentralizadas). Tributação de Criptoativos No Brasil, a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB) considera como Criptoativo “a representação digital de valor denominada em sua própria unidade de conta, cujo preço pode ser expresso em moeda soberana local ou estrangeira, transacionado eletronicamente com a utilização de criptografia e de tecnologias de registros distribuídos, que pode ser utilizado como forma de investimento, instrumento de transferência de valores ou acesso a serviços, e que não constitui moeda de curso legal”. Por circular na rede mundial de computadores e se utilizar de criptografia, sem utilizar o sistema financeira tradicional, torna-se difícil rastrear as movimentações desses ativos, impondo dificuldades para a cobrança de tributos decorrentes dessas operações. No entanto, em 2019 foi editada a Instrução Normativa (IN) RFB nº 1899, a qual instituiu e disciplinou a obrigatoriedade de prestação de informações relativas às operações realizadas com criptoativos à RFB. Pela referida IN, quem movimenta mais de R$ 30.000,00 por mês, seja pessoa física ou jurídica, por meio de uma ou na soma de todas suas operações, fica obrigado a informar à RFB até o último dia útil do mês-calendário subsequente àquele em que ocorreu as operações realizadas com criptoativos. As informações a serem prestadas deverão ser feitas através do Centro Virtual de Atendimento (e-CAC) da Receita Federal, sejam elas relativas à compra e venda, permuta, doação, transferência de criptoativo para a Exchange, retirada de criptoativo da Exchange, cessão temporária (aluguel), dação em pagamento, emissão e quaisquer outras operações que impliquem em transferência de criptoativos. Estará sujeito à tributação os ganhos superiores à R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) decorrentes da alienação de Criptoativos, a título de ganho de capital, ou seja, caso o total alienado no mês ultrapasse esse valor, o ganho de capital relativo a todas as alienações estará sujeito à tributação. Nesse caso a alíquota será progressiva conforme a Lei Nº 8.981/95, sendo de 15% quando não ultrapassar 5 milhões de reais, podendo chegar à 20,25% quando os ganhos excederem ao montante de 30 milhões de reais. Por se tratar de tema relativamente novo, do ponto de vista das construções legislativas, embora a IN nº 1899/19 tenha trazido avanços e certa regulamentação para este novo ativo financeiro, possivelmente, em breve, com o aumento exponencial de movimentação das criptos, veremos maior preocupação para uma construção de um marco legal mais robusto para lidar com esta nova realidade. Gerson Breno Passos Lopes, acadêmico do 10º. Período do Curso de Direito, Estagiário de Carlos de Souza Advogados. Artigo publicado pelo Jornal Online Folha Vitória: https://www.folhavitoria.com.br/geral/blogs/direito-ao-direito/2021/12/10/tributacao-de-criptoativos/
O bullying é a ação que busca tripudiar, ridicularizar, zombar ou humilhar outras pessoas, geralmente por algum motivo indefesas, independentemente de serem crianças, jovens ou adultos, causando danos psicológicos e em alguns casos até mesmo físicos às vítimas. Tal ação, portanto, especialmente em crianças e adolescentes, acaba por afligir a um ponto em que as mesmas podem até perder a vontade de inclusive frequentar o ambiente escolar. O bullying pode se dar pelo meio tradicional, no qual são colocados apelidos maldosos, ofensas verbais, entre outros, ou ainda por meio do cyberbullying, em que as agressões transcendem o meio físico emplacando ainda o ambiente virtual. Quando pensamos na prática comum de bullying, normalmente é relembrada a prática contra crianças e jovens adolescentes, essencialmente no ambiente escolar. Sabemos que a prática dessa ação pode desencadear diversos problemas físicos e psicológicos, o que leva à seguinte indagação: as instituições de ensino, públicas ou privadas, podem ser responsabilizadas civilmente nos casos de bullying? Inicialmente deve ser destacada a existência da chamada “Lei do Bullying”, instaurada sob a Lei 13.185/15. Entre as medidas destacadas na Lei, salienta que é dever do estabelecimento de ensino, e das instituições apresentarem medidas de conscientização, prevenção e combate ao bullying. Além disso requereu a produção e publicação de relatórios bimestrais a respeito das ocorrências de bullying nos Estados e Municípios. Apesar desta Lei apresentada, surgem as questões a respeito de uma responsabilização de maneira mais objetiva por parte das instituições de ensino, públicas ou particulares. Primordialmente deve ser destacado que o papel de uma instituição escolar é, essencialmente, proteger os alunos dentro do seu espaço físico buscando desenvolver medidas e ações para haver uma integração de todos, devendo ainda preservar a integridade física e também psicológica dos alunos, fato que é corroborado pelo doutrinador Rui Stoco: “A escola ao receber o estudante menor, confiado ao estabelecimento de ensino da rede oficial ou rede particular para as atividades curriculares, de recreação, aprendizado e formação escolar, a entidade é investida no dever de guarda e preservação da integridade física do aluno, com a obrigação de empregar a mais diligente vigilância, para prevenir e evitar qualquer ofensa ou dano aos seus pupilos, que possam resultar do convívio escolar”. Devido a este fato, em caso de danos sofridos por parte dos alunos, pode ficar caracterizada uma clara e evidente falha na função principal de uma instituição de ensino, o que pode levar uma escola a ser penalizada com base nos artigos 932, IV e 933 do Código Civil, que tratam a respeito da Responsabilidade Civil e da obrigação de indenizar, bem como ser enquadrada à do Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 14 que salienta a respeito da reparação dos danos causados aos consumidores por parte do fornecedor de serviços, por se tratar de uma relação de consumo. Tal necessidade de responsabilização é salientada pelos tribunais, que vêm reconhecendo a necessidade de indenização por parte das escolas, considerando a falha na prestação de serviço. DIREITO CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. ABALOS PSICOLÓGICOS DECORRENTES DE VIOLÊNCIA ESCOLAR. BULLYING. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA. SENTENÇA REFORMADA. CONDENAÇÃO DO COLÉGIO. VALOR MÓDICO ATENDENDO-SE ÀS PECULIARIDADES DO CASO. 1… 2. Na espécie, restou demonstrado nos autos que o recorrente sofreu agressões físicas e verbais de alguns colegas de turma que iam muito além de pequenos atritos entre crianças daquela idade, no interior do estabelecimento réu, durante todo o ano letivo de 2005. É certo que tais agressões, por si só, configuram dano moral cuja responsabilidade de indenização seria do Colégio em razão de sua responsabilidade objetiva. Com efeito, o Colégio réu tomou algumas medidas na tentativa de contornar a situação, contudo, tais providências foram inócuas para solucionar o problema, tendo em vista que as agressões se perpetuaram pelo ano letivo. Talvez porque o estabelecimento de ensino apelado não atentou para o papel da escola como instrumento de inclusão social, sobretudo no caso de crianças tidas como “diferentes”. Nesse ponto, vale registrar que o ingresso no mundo adulto requer a apropriação de conhecimentos socialmente produzidos. A interiorização de tais conhecimentos e experiências vividas se processa, primeiro, no interior da família e do grupo em que este indivíduo se insere, e, depois, em instituições como a escola. No dizer de Helder Baruffi, “Neste processo de socialização ou de inserção do indivíduo na sociedade, a educação tem papel estratégico, principalmente na construção da cidadania. De tal maneira, considerando o exposto, percebe-se que a escola pode sim ser responsabilizada por danos decorrentes de prática do bullying no ambiente educacional, por assumir um dever de guarda com os menores, mesmo que de maneira temporária. Sérgio Carlos de Souza, fundador e sócio de Carlos de Souza Advogados, autor dos livros “101 Respostas Sobre Direito Ambiental” e “Guia Jurídico de Marketing Multinível”, especializado em Direito Empresarial, Recuperação de Empresas e Ambiental. João Gabriel Mesquita Francischetto, Acadêmico do Curso de Direito. Artigo publicado pelo Jornal Online Folha Vitória: https://www.folhavitoria.com.br/geral/blogs/direito-ao-direito/2021/12/09/responsabilidade-das-escolas-pela-pratica-do-bullying-2/
É inegável a importância do administrador judicial para o deslinde do processo de recuperação judicial, pois pode contribuir de sobremodo para que a empresa que passa por apuros financeiros se mantenha ativa e consiga chegar ao momento tão almejado que é saldar as suas dívidas e atuar novamente como uma empresa sadia no mercado. Da mesma forma, o administrador judicial pode bem atuar dentro do processo em que é decretada a falência do devedor, como, por exemplo, para mitigar os efeitos da extinção da atividade empresarial e da sociedade que até então existia, com vistas a preservar o patrimônio que servirá para poder pagar os credores. Pode ser administrador judicial o advogado, o economista, o administrador de empresa ou o contador, posto que precisa deter conhecimentos específicos para desempenhar seu múnus, desde que nomeados pelo juiz como pessoa de sua confiança, visando garantir a imparcialidade da sua atuação que tem como pauta principal beneficiar a coletividade de credores. O administrador judicial tem sua função adstrita à autorização do juiz que o nomeia, significando dizer que sem que seja autorizado não pode praticar atos, salvo aqueles já previstos na lei, como, por exemplo, a contratação de profissionais para lhe prestar auxílio, caso se depare com alguma questão no processo que fuja do seu conhecimento e expertise. Dentre as suas atribuições mais corriqueiras estão: a prestação de contas que tem o escopo de dar transparência ao processo; a fiscalização da empresa em recuperação judicial, emitindo relatórios mensais sobre as alterações do passivo e do ativo; a fiscalização da massa patrimonial no caso da falência, para que os bens possam ser liquidados visando a satisfação do crédito dos credores. A remuneração do administrador é fixada pelo juiz nos termos da Lei nº 11.101/2005, que sairá do patrimônio do devedor na forma que o legislador autoriza, e será medida de acordo a complexidade do trabalho a ser prestado, desde que não exceda 5% do valor devido aos credores submetidos ao regime de recuperação judicial ou do valor de venda dos bens da falência, sendo reduzida a 2% nos casos que envolva microempresa e empresa de pequeno porte. A falta de nomeação e intimação do administrador para atuação na recuperação e na falência gera nulidade do processo, razão pela qual nestas breves linhas podemos notar a relevância da sua figura para todo sistema de insolvência brasileiro. Raphael Wilson Loureiro Stein é Associado do Escritório desde abril de 2019 e atua nas áreas: Contencioso Civil, Comercial e Recuperação de Empresas e Falência. Artigo publicado pelo Jornal Online Folha Vitória: https://www.folhavitoria.com.br/geral/blogs/direito-ao-direito/2021/12/08/a-importante-figura-do-administrador-judicial/
Não será todo protesto indevido de título que irá gerar danos de ordem moral. Este foi o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Recurso Especial 1677772/RJ, momento em que afirmou que, ainda que o cheque esteja prescrito, mas, havendo outra via alternativa para cobrança do valor lançado no título, o protesto ainda que indevido não é capaz de gerar danos de ordem moral. Anteriormente, o entendimento praticado era a ocorrência do dano moral nas hipóteses de protesto indevido de título. Assim, o posicionamento pretérito considerava como uma conduta ilícita e causadora de danos de ordem moral aquele que, utilizando cheque prescrito, promovesse ou permitisse o seu protesto. Entretanto, atualmente entende-se que, havendo outras formas de ser efetuado o recebimento do crédito estampado no cheque prescrito, o protesto não causa danos de ordem moral. O novo entendimento se baseia no fato de que, o dano moral esta relacionado ao abalo de crédito decorrente da publicidade de um protesto indevido, gerando naquele que é cobrado a imagem de mau pagador. Porém, no caso do cheque prescrito e protestado, entendeu-se que havendo outras vias autorizadas por lei, tais como, a ação cambial por locupletamento ilícito, no prazo de 2 anos (art. 61 da Lei 7.357/85), ação de cobrança fundada na relação causal (art. 62 da Lei 7.357/85) e ação monitória, no prazo de 5 (cinco) anos, não seria a hipótese de abalo de crédito do devedor, pois, este mantém a condição de devedor, estando inadimplente/impontual no pagamento da obrigação financeira, sendo possível o manejo das medidas para recebimento do crédito. Assim, o entendimento é, ainda que se tenha uma conduta ilícita (protesto indevido) não implica o dever de indenizar se não houver dano efetivo ao bem jurídico tutelado que, no caso em questão, é o abalo do crédito. Marcello Gonçalves Freire, sócio de Carlos de Souza Advogados, atua nas áreas do Direito Médico, Administrativo, Ambiental, Mineração, Regulatório e Previdenciário. Artigo publicado pelo Jornal Online Folha Vitória: https://www.folhavitoria.com.br/geral/blogs/direito-ao-direito/2021/12/07/dano-moral-por-protesto-indevido/
É bem comum se deparar com situações de cobrança por serviço que não foi contratado ou solicitado, como por exemplo, um cartão de crédito ou até mesmo a disponibilização de alguns canais de TV por assinatura que não estavam inclusos no pacote contratado. Algumas empresas insistem nessa estratégia de incluir pequenos ou poucos serviços não contratados para aumentar sua lucratividade, e, justamente por isso, há expressa disposição no Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 39, inciso III, para coibir tais condutas, tidas como práticas abusivas. O referido dispositivo dispõe que: “É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto, ou fornecer qualquer serviço”. Nesta senda, o Poder Judiciário possui entendimento firmado de que a cobrança por serviços não contratados é abusiva e indevida, gerando, por parte da empresa, o dever de restituir o consumidor, e, em alguns casos, a pagar indenização por danos morais. Nestes casos, a conduta da empresa é punida justamente para que ocorra um desestimulo à sua pratica abusiva, que visa tão somente o enriquecimento ilícito, tido como danos moral de caráter punitivo. É importante, porém, que o consumidor tome alguns cuidados para evitar a “perda de seu direito”, uma vez que, para questionar os serviços não contratados, os mesmos não podem ter sido utilizados. Por exemplo: se você recebe um cartão de crédito que não solicitou, o mesmo não poderá ser desbloqueado ou utilizado. Olhando por outra situação, se o consumidor que recebeu canais de TV não contratados, mas efetuou o pagamento da fatura e assistiu aos referidos canais, o entendimento será que o mesmo aceitou a contratação, não podendo mais questionar o referido cenário. Portanto, é necessário que o consumidor não faça uso daquilo que não fora contratado e se posicione perante ao fornecedor, não aceitando o serviço/produto não contratado, exigindo o cancelamento daquele e a restituição do que lhe fora cobrado. Em havendo dificuldade e/ou não aceitação por parte do fornecedor, poderá o consumidor buscar o Procon ou diretamente recorrer ao Poder Judiciário e ajuizar uma demanda perante aos Juizados Especiais. Melissa Barbosa Valadão Almeida, associada de Carlos de Souza Advogados, especializada em Direito Civil e Comercial. Artigo publicado pelo Jornal Online Folha Vitória: https://www.folhavitoria.com.br/geral/blogs/direito-ao-direito/2021/12/06/a-abusividade-da-cobranca-de-servicos-nao-contratados/
Clique no link e confira o Boletim: http://r.mkt.carlosdesouza.com.br/3gbxz6wjgclpfe.html?t=1638540982
Com a pandemia ocorreu um natural crescimento do e-commerce e, em especial, o uso de plataformas de anúncios de bens ou serviços, que se propõem a unir os interessados na aquisição de determinados bens – novos ou usados, móveis ou imóveis, veículos, cartas de crédito – e aqueles que os anunciam à venda ou troca. Este ambiente virtual favorece a ocorrência de fraudes, uma vez que se afasta a relação presencial, que exigiria um contato visual entre as partes, e facilitaria a identificação do sujeito mal intencionado. Além disso, não há limitação geográfica para que as transações comerciais e cambiais ocorram, sendo que este é mais um facilitador das fraudes noticiadas cotidianamente. Quando a modalidade do comércio eletrônico é direta, ou seja, o contato entre o interessado/adquirente e o ofertante/ vendedor não possui intermediário, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor a favor da vítima da fraude é objetiva, assim o vitimado será indenizado pelo ofertante em caso de fraude e prejuízo comprovados. Mas, como estabelecer o responsável pelo prejuízo causado às vítimas de fraudes, que utilizam esse sistema de anúncios, para a aquisição ou troca de bens? Seriam os sites intermediadores de comércio eletrônico, ou seja, aqueles que promovem esses “encontros” e “negócios” virtuais, corresponsáveis na indenização das vítimas das fraudes? Bem, quando o site se propõe a ser apenas o intermediador, que oferece a informação gerada por terceiro, servindo exclusivamente como um veiculador dos detalhes do negócio/oferta, não incidem sobre referidos sites as regras de responsabilidade pela fraude cometida. Esta é a interpretação que tem sido proposta pelo Superior Tribunal de Justiça: os sites que anunciam e propiciam os negócios entabulados virtualmente não são civilmente responsáveis pelas fraudes perpetradas por terceiros. Com efeito, o entendimento predominante é de que a vítima da fraude, que sofre prejuízo, não será indenizada pelo site que veiculou e proporcionou o negócio fraudulento, que possui a sua responsabilidade limitada a determinados aspectos do anúncio e da identificação dos usuários. O entendimento dos tribunais está pautado no fato de que o serviço de anúncio se exaure em si, sendo que os sites que veiculam os negócios limitam-se a prestar este serviço de “aproximação”. Assim, quaisquer atos negociais subsequentes ao anúncio que aproximou as partes precisam ser garantidos pelos negociantes, que foram “apresentados” pelo meio virtual proporcionado pelo site. Portanto, após o anúncio em meio virtual, a contratação do negócio se dá diretamente entre o possível adquirente e os anunciantes, sem qualquer participação do site veiculante, que apenas disponibilizou o espaço virtual, esta empresa não tem responsabilidade em indenizar atos de fraudes. Com efeito, em que pese o mau negócio realizada pela vítima, a fraude é praticada por terceiros, não havendo como ser a indenização pela empresa que disponibiliza o espaço virtual para que terceiros possam anunciar seus produtos e serviços, de forma gratuita, visto que não participou do negócio. Concluindo, necessário que os negócios em ambiente virtual sejam pautados em ampla verificação quanto aos envolvidos no anúncio, sendo certo que as cautelas, independentemente do sistema utilizado para aproximação das partes, deve sempre pautar quaisquer transações negociais, cumprindo ao adquirente e ao vendedor se assegurar de meios possíveis a identificação exata do proprietário ou possuidor do bem (que se ostentar documentos, tais como veículos e imóveis), da lisura do anúncio (preços muito abaixo do mercado são um forte indicativo de fraude, por exemplo), e, especialmente, no ato do pagamento, vez que comprovantes de depósitos falsos têm sido utilizados para fraudar negócios em ambiente virtual. Chrisciana Oliveira Mello, sócia de Carlos de Souza Advogados, aluna especial do curso de mestrado em Processo Civil da Universidade Federal do Espírito Santo. Artigo publicado pelo Jornal Online Folha Vitória: https://www.folhavitoria.com.br/geral/blogs/direito-ao-direito/2021/12/03/fraudes-cometidas-por-terceiros-em-sites-de-anuncios-da-internet-2/