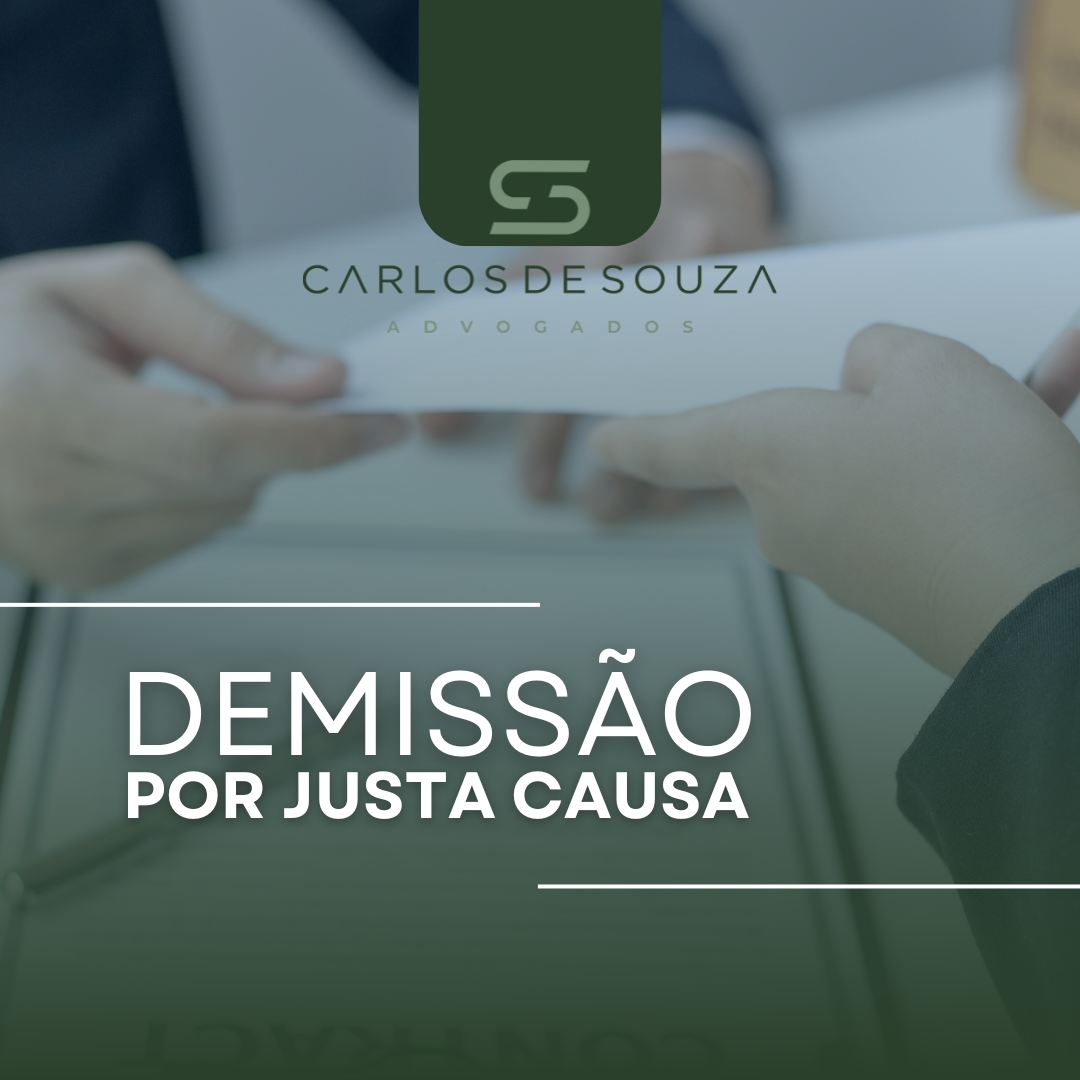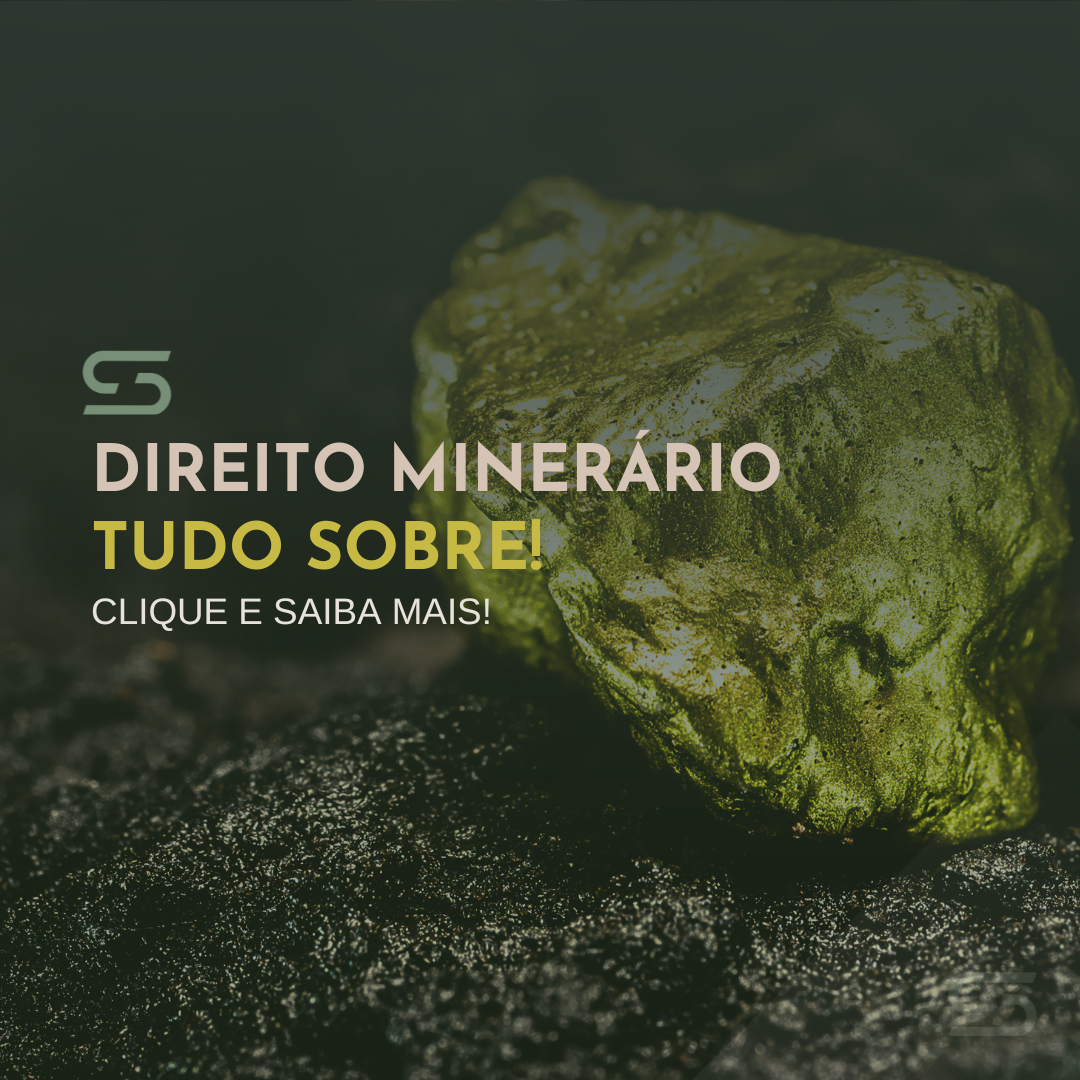– Traição conjugal pode gerar dano moral para o conjugue que foi traído? Os Tribunais passaram a aplicar, frequentemente, a responsabilização por danos morais em casos de traição. Contudo, não funciona para todos os casos de infidelidade, uma vez que dependerá de cada caso concreto. Porém, no geral é possível afirmar que sim, traição conjugal pode gerar dano moral. Nesse sentido, faz-se necessário analisar as consequências na vida da pessoa traída e as circunstâncias do caso concreto. O dever de indenizar encontra amparo no Artigo 927 do Código Civil, que afirma que quando alguém viola algum direito ou causa prejuízo a outra pessoa, seja por meio de uma ação ou omissão, por negligência ou imprudência, fica obrigado a reparar o dano material ou moral que causou. Assim, se aquele que foi traído tiver, comprovadamente, sofrido abalos emocionais e psicológicos sérios (exemplo disso é quando a pessoa entra em depressão após saber do adultério, ou outro quadro psiquiátrico), nasce a possibilidade de pedir uma indenização pelo dano moral. Assim, é possível entender que existe direito à indenização no caso de uma traição, porque a situação se enquadraria na determinação do Art. 927 do CC, que diz: “Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”. No entanto, na prática a situação não é tão simples. Dentre outros requisitos, para ter direito a indenização a pessoa que foi traída precisa provar o dano que sofreu, o que também pode ser demonstrado pelo comportamento indiscreto da situação que vier a ser adotado pelo traidor. – A mesma regra se aplica em traições com parceiros que possuem união estável? Sim. Para a união estável o Artigo 1.724 do CC prevê o dever recíproco de lealdade entre os companheiros. A lealdade implica um comprometimento mais profundo, não apenas físico, mas também moral e afetivo entre os parceiros. Desta forma, a prática de traição representa um descumprimento ao dever de fidelidade ao casamento e de lealdade à união estável, sendo que a violação a estes deveres é apta a ensejar, em certos casos, a reparação pecuniária por dano moral. – E se o ato da traição ocorrer na residência do casal? O dano moral é agravado? O valor da indenização por danos morais, como já mencionado, dependerá do dano causado à parte que foi traída. Já se a traição tiver ocorrido na residência do casal, e isto agravar os abalos emocionais e psicológicos da pessoa traída, há a possibilidade de pedir uma indenização mais gravosa, pois a residência é um ambiente familiar. Nesse sentido vale trazer a exemplo um caso, no qual houve traição dentro da residência do casal, gerando o dever de indenizar de forma mais robusta por danos morais. O entendimento é da 4ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo ao manter a condenação de um homem a indenizar a ex-mulher por ter levado a amante para dentro da casa da família. De acordo com os autos, desconfiada da infidelidade do marido, a autora buscou os vizinhos para pedir imagens das câmeras das residências, quando descobriu que ele havia levado a amante para a casa do casal, onde moravam junto com os três filhos. A circunstância, de acordo com a mulher, ocasionou enorme angústia e desgosto. Conforme consta do julgamento, o dever de reparar advém “da insensatez do réu ao praticar tais atos no ambiente familiar, onde as partes moravam com os três filhos comuns”. Além disso, o magistrado ressaltou que a mulher foi exposta a situação vexatória, haja vista o conhecimento de vizinhos sobre o ocorrido. – Quais são os deveres conjugais segundo o Código Civil? O Código Civil, em seu Artigo 1.566, prega que são deveres de ambos os cônjuges a fidelidade recíproca, a vida comum no domicílio conjugal, a mútua assistência, o sustento, a guarda e educação dos filhos e o respeito e consideração mútuos. Sendo a fidelidade recíproca uma obrigação de lei, sua violação pode ser entendida como um ato ilícito. – Existem direitos dos conjugues que podem ser “perdidos” caso haja traição? Provada a traição, a mulher ou o marido que traem perdem o direito a receber pensão do outro, se a hipótese suportasse essa imposição. O adultério não afeta a partilha dos bens, que deverá seguir o regime de casamento adotado entre os cônjuges. A tese de que o parceiro infiel não deve receber pensão alimentícia foi reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). A traição no casamento, até mesmo virtual, viola o dever conjugal de fidelidade e se enquadra na indignidade. Segundo a tese, o comportamento do infiel é indigno e quem trai, mesmo sendo dependente do marido ou da esposa, não tem direito à pensão alimentícia. A tese acolhida prega que quem descumpre o dever conjugal fica sujeito a sanções, como a perda da pensão alimentícia. Dessa forma, o STJ reconhece que o infiel não tem direito à pensão alimentícia, isso porque, segundo o entendimento, a traição no casamento e na união estável representa descumprimento de dever conjugal e acarreta a aplicação de sanções ao infiel. – Adultério é crime? O adultério deixou de ser crime há mais de 15 anos, quando a Lei 11.106/2005 tirou do Código Penal a pena de quinze dias a seis meses de detenção para a prática. A revogação representou, à época, uma importante mudança para o Direito das Famílias. Contudo, as traições não foram abolidas das relações contemporâneas, tampouco os casos deixaram de chegar à Justiça. A depender da gravidade e dos efeitos que a traição gerou para o outro cônjuge ou companheiro traído, será possível a condenação por danos morais. Sérgio Carlos de Souza, fundador e sócio de Carlos de Souza Advogados, autor dos livros “101 Respostas Sobre Direito Ambiental” e “Guia Jurídico de Marketing Multinível”, especializado em Direito Empresarial, Recuperação de Empresas e Ambiental. Letícia Stein Carlos de Souza, Acadêmica do 4º. Período da Faculdade de Direito de Vitória e Estagiária de Direito. Artigo publicado pelo Jornal Online Folha Vitória: https://www.folhavitoria.com.br/geral/blogs/direito-ao-direito/2021/12/02/danos-morais-por-traicao-conjugal/
Não é de hoje que, como o avanço da tecnologia, discute-se sobre os problemas que podem ser causados pelo uso indevido de aparelhos de telefone celular no ambiente de trabalho, bem como a utilização de aplicativos de mensagens. Evidente que a utilização de smartphones e aplicativos de mensagens pode também ser benéfica ao empregador, na medida em que facilitam a comunicação para orientações, no controle de atividades, dentre outros. No entanto, o objetivo do presente artigo é tratar dos malefícios causados pelo uso indevido de smartphones no ambiente de trabalho pelo empregado, bem como pela utilização de aplicativos de mensagens pelo empregador para a comunicação com o empregado fora do horário de trabalho. Acerca do uso indevido de smartphones por empregados durante a jornada de trabalho, não é incomum nos depararmos com situações em que o empregado utiliza parte do tempo em que deveria estar produzindo, acessando redes sociais, tirando fotos com colegas, enviando e recebendo mensagens por aplicativos, o que, sem sombra de dúvidas, reduz sua produtividade. Situações como essas podem e devem ser objeto de proibição pelo empregador, na medida em que, em razão do seu poder diretivo, pode impor as regras a serem seguidas pelo empregado, desde que não contrarie as normas trabalhistas. Assim, para o fim de se evitar a queda da produtividade dos empregados, cabe ao empregador, estipular as regras de uso de smartphones no local de trabalho, sob pena de punição, que poderá ser desde a advertência até à dispensa por justa causa. A jurisprudência dos Tribunais é no sentido de validar a dispensa por justa causa do empregado pela utilização de smartphones no local de trabalho para assuntos pessoais, de forma reiterada e prejudicial à produtividade. Outro problema que merece destaque é a utilização, pelo empregador, de aplicativos de mensagens para contatar o empregado fora da jornada de trabalho. Indaga-se: Tal fato poderá ocasionar o direito ao recebimento de horas extras ou caracterizar o sobreaviso? Para responder à questão, é preciso diferenciar horas extras de sobreaviso. Por sobreaviso entende-se o período e que o empregado não está trabalhando, porém, aguarda em sua residência uma convocação para executar o serviço a qualquer momento, permanecendo em regime de plantão. Haverá sobreaviso se o empregador exigir que o empregado permaneça à disposição, respondendo às mensagens enviadas pelo empregador. Uma vez caracterizado o sobreaviso, o empregado fará jus ao recebimento de 1/3 de seu salário correspondente à quantidade de horas nessa situação. Quando efetivamente tiver que executar alguma tarefa, receberá o período como horas extras. Por outro lado, fará direito ao recebimento de horas extras, o empregado que, acaso acionado fora do horário de trabalho, responda às mensagens sobre problemas ligados ao trabalho ou execute alguma outra tarefa. Nessa hipótese, todo o tempo despendido para resposta e execução de tarefas será computado como horas extras. No entanto, o simples envio de mensagens através de aplicativos sem nenhuma determinação de trabalho, mas apenas orientações sobre tarefas a serem executadas no dia seguinte de trabalho, por exemplo, não configuram o direito ao recebimento de horas extras. Rodrigo Silva Mello e Roberta Conti R. Caliman, sócios de Carlos de Souza Advogados, são especializados em Direito Trabalhista. Artigo publicado pelo Jornal Online Folha Vitória: https://www.folhavitoria.com.br/geral/blogs/direito-ao-direito/2021/12/01/os-problemas-do-uso-indevido-de-smartphones-e-aplicativos-no-ambiente-de-trabalho-2/
O artigo 145 da CLT estipula o prazo de pagamento de férias e do 1/3 constitucional em até dois dias antes do início do respectivo período. Já o artigo 137 da CLT prevê o pagamento em dobro das férias quando forem concedidas fora do prazo previsto no artigo 134, ou seja, após os 12 meses subsequentes à data em que o empregado tiver adquirido o direito. Veja que a norma celetista não fala sobre os casos de atraso no pagamento das férias, mas tão somente no gozo destas. Então, em razão de ausência de norma legal prevendo sanção em caso de atraso, houve uma unificação de entendimento do Tribunal Superior do Trabalho sobre referida lacuna legal, a qual deu origem à súmula 450 do TST, estabelecendo que o pagamento fora do prazo dá direito ao trabalhador de receber a dobra de férias, fazendo assim uma interpretação em conjunto dos artigos citados acima. Todavia, recentemente, o TST não aplicou referida súmula no processo nº 10128-11.2016.5.15.0088, ou seja, não condenou uma empresa a pagar em dobro as férias de um empregado que recebia o pagamento sempre no primeiro dia de férias, isto em quatro anos consecutivos. O TST se pronunciou no sentido de que referida multa decorre de entendimentos consolidados da referida Corte, considerando inexistir normal legal prevendo sanção em caso de atraso no pagamento. Nesse contexto, não poderia ser realizada uma interpretação extensiva de normas que preveem penalidades, como por exemplo, dos artigos 137 e 145 da CLT. No caso tratado no processo, ficou demonstrado o descumprimento parcial da norma já que as férias foram pagas no primeiro dia de descanso e não após o trabalhador usufruir destas. Logo, seria uma punição excessiva obrigar o empregador a pagar em dobro este direito do trabalhador. Importante esclarecer que as decisões anteriores nos autos condenaram a empresa no pagamento em dobro de férias e a situação apenas se alterou no TST, ao rever a aplicação da referida súmula. O Ministro Relator do recurso, Ives Gandra Martins, fez importantes apontamentos sobre como chegou-se ao entendimento constante na súmula nº 450, rememorando as decisões que levaram à sua edição. Em todas as referidas decisões, o pagamento de férias sempre foi realizado após o descanso promovido pelas férias, fato que obviamente gera prejuízo ao trabalhador que não recebeu o valor o qual teria direito exatamente para poder usar em suas férias, diferentemente do que ocorreu no caso narrado acima que o trabalhador recebeu o pagamento no primeiro dia de suas férias. Assim, se não há norma prevendo claramente a situação aqui narrada, não faz sentido punir o empregador com o pagamento em dobro, situação que inclusive caracteriza o enriquecimento ilícito do trabalhador, vedado pelo ordenamento jurídico. Por fim, melhor é que não ocorram atrasos no pagamento das férias, prevenindo possíveis demandas e discussões sobre a questão. Rodrigo Silva Mello e Roberta Conti R. Caliman, sócios de Carlos de Souza Advogados, são especializados em Direito Trabalhista. Artigo publicado no Jornal Online Folha Vitória: https://www.folhavitoria.com.br/geral/blogs/direito-ao-direito/2021/11/30/atraso-no-pagamento-das-ferias-e-direito-ao-trabalhador-de-receber-em-dobro/
O direito à herança é um tema um tanto quanto conflituoso e que demanda diariamente a análise técnica do advogado. Recentemente, neste blog, trouxemos duas análises sobre a possibilidade de alteração do regime de bens ainda durante o casamento e algumas noções do direito à herança. Nesta oportunidade, trataremos sobre o direito à herança do cônjuge no regime de separação de bens. Primeiramente, cabe esclarecer que há diferença entre o regime da separação convencional de bens e o da separação obrigatória de bens. No regime de separação convencional, por meio de um pacto antenupcial, por liberalidade, o casal opta por adotar esse regime que resulta na incomunicabilidade dos bens adquiridos antes, durante e após o casamento, de modo que os bens de cada cônjuge constituem acervos distintos. Por outro lado, no regime da separação obrigatória, não há possibilidade de manifestação do casal quanto ao regime de bens que regerá a futura união. Dentre outras hipóteses, esse regime é o imposto pela lei no caso de um dos cônjuges ser maior de 70 anos de idade. O que há de comum nessas duas modalidades? É que tanto na separação convencional quanto na obrigatória, prevalece a regra da incomunicabilidade dos bens, ou seja, permanecem sob exclusiva propriedade de cada cônjuge os bens que cada um possuir ao casar e os que lhe sobrevierem na constância do casamento. Neste ponto, contudo, é importante salientar que essa regra comum deixou de ser absoluta com a edição da súmula 377 do Supremo Tribunal Federal, ao dispor que “no regime de separação legal de bens, comunicam-se os adquiridos na constância do casamento“. Verdadeiramente o STF assumiu o papel de legislador ao criar uma exceção à incomunicabilidade dos bens adquiridos durante a constância do casamento celebrado pelo regime da separação obrigatória de bens. Dessa forma, mesmo adotando-se o regime de separação de bens, aqueles bens que forem adquiridos na constância da união, por esforço comum dos cônjuges, farão parte da comunhão dos bens. Feito o esclarecimento, passemos agora a analisar se o cônjuge sobrevivente, casado sob o regime de separação total de bens (ou seja, no regime de separação convencional), tem direito à herança. Pois bem, mesmo que o regime adotado (convencional) seja o de separação total de bens, em caso de falecimento, o cônjuge sobrevivente é herdeiro necessário do falecido, em igualdade com os filhos (caso existam). É o que dispõe o art. 1.829 do Código Civil. E se no ato da elaboração do pacto antenupcial o casal renunciar previamente ao direito da herança? Ainda assim, segundo o entendimento dos Tribunais Pátrios sobre o tema, essa renúncia será inválida. Isso porque o próprio Código Civil veda a antecipação de herança de pessoa viva (vide art. 426), bem como as normas que dispõem sobre o direito à herança são de ordem pública, logo, não podem as partes dispor livremente sobre o assunto. E a o cônjuge sobrevivente casado sob o regime de separação obrigatória? Tem direito à herança? Neste caso, o Código Civil é claro ao dispor que o cônjuge não será sucessor legítimo. Nos remetemos à sumula 377 do STF, e assim, os bens adquiridos pelo casal por esforço comum dos cônjuges, farão parte da comunhão dos bens. Portanto, observa-se que o tema é complexo e por conta da insegurança existente quanto à autonomia patrimonial entre as partes é fundamental que a parte obtenha informações técnicas para a elaboração de pactos antenupciais detalhados ou, ainda, para alterar o regime de bens inicialmente adotado para o casamento. David Roque Dias, associado de Carlos de Souza Advogados, especializado em Direito Civil, Contratos e Assuntos Societários. Artigo publicado pelo Jornal Online Folha Vitória: https://www.folhavitoria.com.br/geral/blogs/direito-ao-direito/2021/11/29/casamento-com-separacao-de-bens-e-direito-a-heranca-veja-como-funciona/
Clique no link e confira o Boletim: http://r.mkt.carlosdesouza.com.br/3gbtrhkjgclpfe.html?t=1637934684
O Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria para definir que uma lei estadual não poderá estabelecer alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação acima das alíquotas utilizadas nas operações, em geral. No Recurso Extraordinário (RE) 714139, questiona-se a alíquota fixada pelo Estado de Santa Catarina para tais serviços no patamar de 25%, enquanto a alíquota geral foi fixada em 17%. Ora, os serviços de telecomunicação e o fornecimento de energia elétrica são essenciais à população, aos setores produtivos, de serviço e comércio. São bens de primeira necessidade sujeitos à técnica da seletividade prevista na Constituição Federal, segundo a qual o ICMS poderá ser seletivo, em função da essencialidade das mercadorias e dos serviços. Em suma a seletividade determina que, quanto mais essencial o bem, menor deve ser sua alíquota. A essencialidade, por sua vez, está diretamente relacionada à manutenção da dignidade humana. Ressalte-se que o ônus financeiro da tributação em questão recai, normalmente, sobre os consumidores, pois as alíquotas são refletidas nos preços dos produtos. Embora não seja o consumidor o contribuinte de direito, acaba o sendo de fato, pois ele suporta o ônus financeiro da tributação. Portanto, a capacidade tributária, ou seja a capacidade de pagar tributos, a ser aferida é a do consumidor. Sob esse prisma, o voto condutor do Ministro Marco Aurélio, atualmente aposentado, mostrou-se acertado. Ele afirmou que “o desvirtuamento da técnica da seletividade, considerada a maior onerosidade sobre bens de primeira necessidade, não se compatibiliza com os fundamentos e objetivos contidos no texto constitucional, a teor dos artigos 1º e 3º, seja sob o ângulo da dignidade da pessoa humana, seja sob a óptica do desenvolvimento nacional”. Nesse esteio, a tese vencedora, até o momento, foi fixada da seguinte forma: “Adotada, pelo legislador estadual, a técnica da seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS, discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços”. O julgamento foi suspenso pelo pedido de vista do Ministro Gilmar Mendes, mas a maioria está formada em favor dos contribuintes. O caso tem inegável repercussão econômica nos diversos setores da economia e para a população, em geral. É um exemplo de que a justiça fiscal pode ser obtida através do exercício que leva à efetivação dos direitos e garantias constitucionais. Mariana Martins Barros é advogada tributária, sócia coordenadora da área tributária do Escritório Carlos de Souza Advogados e membro da Comissão de Direito Tributário da OAB/ES. Artigo publicado pelo Jornal Online Folha Vitória: https://www.folhavitoria.com.br/geral/blogs/direito-ao-direito/2021/11/26/energia-eletrica-e-servicos-de-telecomunicacao-podem-ter-aliquota-de-icms-reduzida/
– Quem tem direito a receber herança? A herança é o conjunto de bens positivos ou negativos, incluindo bens móveis, imóveis e até dívidas do falecido, que são transmitidos à pessoa, ou a um grupo de pessoas, físicas ou jurídicas. A lei estabelece a ordem dos herdeiros que receberão a herança: descendentes (filhos) em concorrência com o cônjuge/companheiro; se não tiver filhos, os ascendentes (pais) concorrem com o cônjuge/companheiro sobrevivente; se não tiver filhos, nem pais, o cônjuge/companheiro herdará tudo; se não tiver filhos, nem pais, nem cônjuge/companheiro, os herdeiros serão os parentes colaterais (irmãos, primos, tios etc.). – Sou obrigado a deixar minha herança para parentes de quem não gosto e não são do meu convívio? A depender do grau de parentesco, é possível fazer um testamento e excluir certos parentes da herança. Essa exclusão, contudo, jamais pode alcançar os chamados “herdeiros necessários” de que trata o Art. 1845 do Código Civil. De acordo com a referida regra, seguida pelo Art. 1.846, tais pessoas terão direito à legítima que corresponde à metade dos bens deixados pelo falecido. São herdeiros necessários: os descendentes, os ascendentes e o cônjuge. – Companheiros oriundos de união estável entram no rol de pessoas beneficiadas pela herança? A jurisprudência reconhece com tranquilidade que o relacionamento fruto de união estável dá ao companheiro sobrevivente o direito à herança. – Posso excluir da herança meu filho que não me procura? Essa situação chama-se abandono afetivo, e ela não está entre as hipóteses taxativas elencadas pela lei que autorizam a exclusão do herdeiro necessário à herança. Há quem defenda que a Constituição Federal permite que seja aplicado o abandono afetivo como causa a afastar o direito do herdeiro necessário ao patrimônio do falecido com base na nova concepção de família, que tem como alicerce o princípio da afetividade. No entanto, esse entendimento ainda é minoritário. Apenas nos seguintes casos há possibilidade legal de retirada do sucessor como herdeiro necessário (Art. 1814 e 1962 do CC): atos contra a vida, honra ou liberdade de testar do titular do patrimônio, ofensa física, injúria grave, relações ilícitas com o cônjuge do falecido, desamparo do falecido em alienação mental ou grave enfermidade. Já há projeto de lei para incluir o abandono afetivo como causa de exclusão da herança, no entanto, ainda não houve alteração legislativa nesse sentido. – É possível privilegiar os herdeiros que estão ao meu lado no dia a dia? Uma forma de minimizar o acesso do herdeiro necessário à herança é por meio da elaboração do testamento, através do qual o autor da herança pode dispor, para quem desejar, de metade de seu patrimônio. Assim, por meio do testamento, o titular do patrimônio garante que metade do seu patrimônio será destinado às pessoas que entender adequado e a outra metade será destinado aos herdeiros necessários, conforme a lei, sendo este um caminho para privilegiar herdeiros que assistem melhor o falecido, aumentando o quinhão deles. – Um bilionário norte-americano, James LeVoy Sorenson, deixou 100% de sua fortuna, avaliada em 4,5 bilhões de dólares, para caridade, sem destinar qualquer parcela para a esposa e filho. No Brasil isso seria possível? Não, o Direito brasileiro não permite que a totalidade da herança seja deixada para uma única pessoa ou instituição. No sistema jurídico brasileiro, o regime sucessório conta com um maior protecionismo aos herdeiros, fruto de uma preocupação do legislador com a subsistência dos que remanescem. Desse modo, o Direito brasileiro impõe regras que limitam a capacidade do titular do patrimônio de dispô-lo com total liberdade, ao contrário do que ocorre em outros países, como os EUA, por exemplo. O titular dos bens pode dispor, em testamento, portanto, apenas dos outros 50% de seus bens, a parcela disponível, para aqueles que não sejam seus herdeiros necessários. Sérgio Carlos de Souza, fundador e sócio de Carlos de Souza Advogados, autor dos livros “101 Respostas Sobre Direito Ambiental” e “Guia Jurídico de Marketing Multinível”, especializado em Direito Empresarial, Recuperação de Empresas e Ambiental. Letícia Stein Carlos de Souza, Acadêmica do 4º. Período da Faculdade de Direito de Vitória e Estagiária de Direito. Artigo publicado pelo Jornal Online Folha Vitória: https://www.folhavitoria.com.br/geral/blogs/direito-ao-direito/2021/11/25/saiba-os-seus-direitos-sobre-heranca/
Conforme regramento do Código Civil, no capítulo destinado aos efeitos Jurídicos do Casamento, o regime de bens – conjunto de regras disciplinadoras das relações patrimoniais oriundas do casamento, relativas ao domínio e à administração de ambos ou de cada um dos cônjuges quanto aos bens trazidos ao casamento e aos adquiridos durante a união – uma vez escolhido pelo casal, tornava-se irrevogável. Importante pontuar que, mesmo antes da alteração legislativa que permite, atualmente, a alteração do regime de bens adotado na oportunidade do casamento, o rigor da regra era amenizado, mediante a previsão de exceções legais à inalterabilidade do regime de bens no curso do casamento (v. g., art. 7º, § 5º, da então Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro, permitindo a adoção do regime de comunhão parcial de bens ao estrangeiro casado que se naturalizasse brasileiro; Súmula 377/STF, admitindo a comunicação dos bens adquiridos na constância do casamento selado pelo regime da separação de bens). Contudo, em inovação à matéria, o atual Código Civil do ano de 2002, em seu art. 1.639, § 2º, nas Disposições Gerais referentes ao casamento, afirma ser “admissível a alteração do regime de bens, mediante autorização judicial em pedido motivado de ambos os cônjuges, apurada a procedência das razões invocadas e ressalvados os direitos de terceiros”. Muito se questionou, perante os tribunais superiores, se esta nova regra, que permite a alteração do regime adotado pelos nubentes, se aplicaria aos casamentos contraídos anteriormente ao então “novo” Código Civil Brasileiro, posto que a Constituição Federal possui o princípio consagrado em seu art. 5º do respeito ao ato jurídico perfeito. Por força daquela nova ordem, o STJ firmou-se no sentido de admitir a mudança de regime, mesmo em casamentos contraídos anteriormente ao Código Civil de 2002, passando de qualquer regime para outro, mas desde que não se enquadre em vedações expressas para a sua escolha, a exemplo dos incisos no art. 1.641 (art. 258 do Código de 1916), e que envolvem o casamento de pessoas que infringem as causas suspensivas, e de pessoas com mais de sessenta e cinco anos. Assim, na interpretação dada pelas cortes superiores do art. 2.039 do CC/2002, há possibilidade de alteração convencional do regime de bens com relação aos casamentos ocorridos antes do novo Estatuto Civil, desde que ressalvados os direitos de terceiros e apuradas as razões invocadas pelos cônjuges para tal pedido, a teor do que dispõe o art. 1.639, § 2º, do CC/2002. Desta feita, o art. 1.639, § 2º, do código de 2002, permissor da alteração dos regimes de bens na vigência dos casamentos, constitui-se em norma geral relativa aos direitos patrimoniais dos cônjuges, e incide imediatamente, inclusive às sociedades conjugais formalizadas sob a égide do então Código Civil de 1916, afastando a vedação constante do art. 230 do CC/1916, ressalvadas algumas vedações já mencionadas. Ressalte-se, por fim, não haver que se confundir o denominado efeito imediato do art. 1.639, § 2º, do CC/2002 (conquanto equiparado, segundo alguns autores, ao denominado efeito retroativo mínimo, mitigado ou temperado), preconizado de modo expresso pelo art. 2.035 do CC/2002, com retroatividade genérica das leis, vedada, em regra, pela Magna Carta em atenção ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e à coisa julgada (art. 5º, XXXVI, da CF/88). Destaca-se que os bens adquiridos antes de prolatada a decisão judicial que venha a alterar o regime de bens remanescerão sob os ditames do pacto de comunhão – parcial ou total – estabelecido quando do casamento: o novo regime de separação total de bens incidirá apenas sobre bens e negócios jurídicos adquiridos e contratados após a decisão judicial que autorizar, nos termos do art. 1.639, § 2º, do CC/2002, a modificação incidental do regime de bens. Chrisciana Oliveira Mello, sócia de Carlos de Souza Advogados, aluna especial do curso de mestrado em Processo Civil da Universidade Federal do Espírito Santo. Artigo publicado pelo Jornal Online Folha Vitória: https://www.folhavitoria.com.br/geral/blogs/direito-ao-direito/2021/11/24/e-possivel-alterar-o-regime-de-bens-apos-o-matrimonio-2/
Realizar aquela compra tão desejada pode trazer algumas dúvidas na hora do pagamento. Afinal, pode haver diferenciação de preço para pagamento à vista (dinheiro) ou no cartão? Apesar de não parecer fazer muito sentido alertar para tal questão, a verdade é que muitas pessoas ainda se sentem injustiçadas quando informadas sobre a diferenciação na hora do pagamento dependendo da modalidade escolhida. Mas sim, é direto de o lojista precificar de forma diferente a depender da modalidade ofertada ao consumidor. Tal conduta tem respaldo na Lei 13.455 de 26 de junho de 2017. O art. 1º da referida lei dispõe claramente sobre a possibilidade da diferenciação de preço de bens e serviços oferecidos ao público em decorrência do prazo ou do instrumento de pagamento utilizado. É importantíssimo dizer que a utilização na diferenciação de preços é facultativa ao lojista, ou seja, apesar da lei, não existe qualquer obrigatoriedade em sua aplicação (oferecimento de desconto a depender da modalidade de pagamento e do prazo). Todavia, o consumidor não pode ser pego de surpresa. O texto legal, em seu parágrafo único, dispõe que “o fornecedor deve informar, em local e formato visíveis ao consumidor, eventuais descontos oferecidos em função do prazo ou do instrumento de pagamento utilizado”. Logo, cabe ao lojista ou fornecedor de serviço cientificar o consumidor, antes do momento de pagamento, sobre a diferenciação de preços em virtude da forma de pagamento e prazo, facultando-lhe a escolha que melhor lhe apraz. Por fim, é importante destacar que pela ausência de informação como previsto em lei, o lojista ou o fornecedor de serviços ficará sujeito às sanções previstas no Código de Defesa do Consumidor. Rovena Roberta S. Locatelli Dias, sócia de Carlos de Souza Advogados, especializada em Direito Civil, Médico, Comercial e Imobiliário. Artigo publicado pelo Jornal Online Folha Vitória: https://www.folhavitoria.com.br/geral/blogs/direito-ao-direito/2021/11/23/pagamento-a-vista-ou-no-cartao-eis-a-questao/
O construtor assume perante o consumidor responsabilidade civil a partir da contratação. Tal responsabilidade abrange desde as obrigações ajustadas através das cláusulas do contrato, até aquelas atinentes a questões de ordem pública, como, por exemplo, a segurança da obra. A responsabilidade que nasce do contrato firmado entre construtora e consumidor também abrange o prazo de entrega do imóvel, o qual, sendo descumprido, gera à construtora o dever de indenizar. Acerca deste prazo, como regra geral, os contratos de compra e venda contam com a chamada “cláusula de tolerância”, através da qual prorroga-se automaticamente em 180 dias o prazo de entrega do imóvel, quando excedido prazo de entrega inicial. O desrespeito ao prazo citado, sem justificativa plausível, é inclusive uma das hipóteses de rescisão contratual pelo comprador do imóvel, por inadimplemento da construtora, sendo autorizado que este solicite a devolução integral dos valores pagos à construtora. Na hipótese de a obra sequer ter sido iniciada, ou mesmo estiver longe de terminar, é possível que o comprador pleiteie desde logo a rescisão do contrato, se restar comprovado que a obra não será entregue dentro do prazo estipulado, independentemente da aplicação da cláusula de tolerância. Ou seja, a responsabilidade da construtora, nesses casos, possui caráter objetivo, uma vez que há obrigação com o resultado, o que inclui a entrega do imóvel em perfeito estado de acabamento, na forma descrita no contrato e dentro do prazo estipulado no contrato. Portanto, o consumidor é igualmente resguardado no que se refere aos contratos de compra e venda de imóveis, podendo, inclusive, ser decretada a nulidade de cláusulas que forem consideradas abusivas ou que o coloquem em risco ou desvantagem perante a construtora. Por isso mesmo, a proteção ao consumidor também ocorre quando há desrespeito ao prazo de entrega do imóvel, e para estes casos, há previsão de que a devolução do valor do imóvel ao comprador seja imediata e em parcela única, sendo consideradas abusivas as cláusulas contratuais que determinam a devolução parcelada ou somente na conclusão da obra. Mayara Ferraz Loyola Rufino é associada de Carlos de Souza Advogados e atua na área Contencioso Cível. Artigo publicado pelo Jornal Online Folha Vitória: https://www.folhavitoria.com.br/geral/blogs/direito-ao-direito/2021/11/22/a-responsabilidade-das-construtoras-pelo-atraso-na-entrega-do-imovel-conheca-seus-direitos/