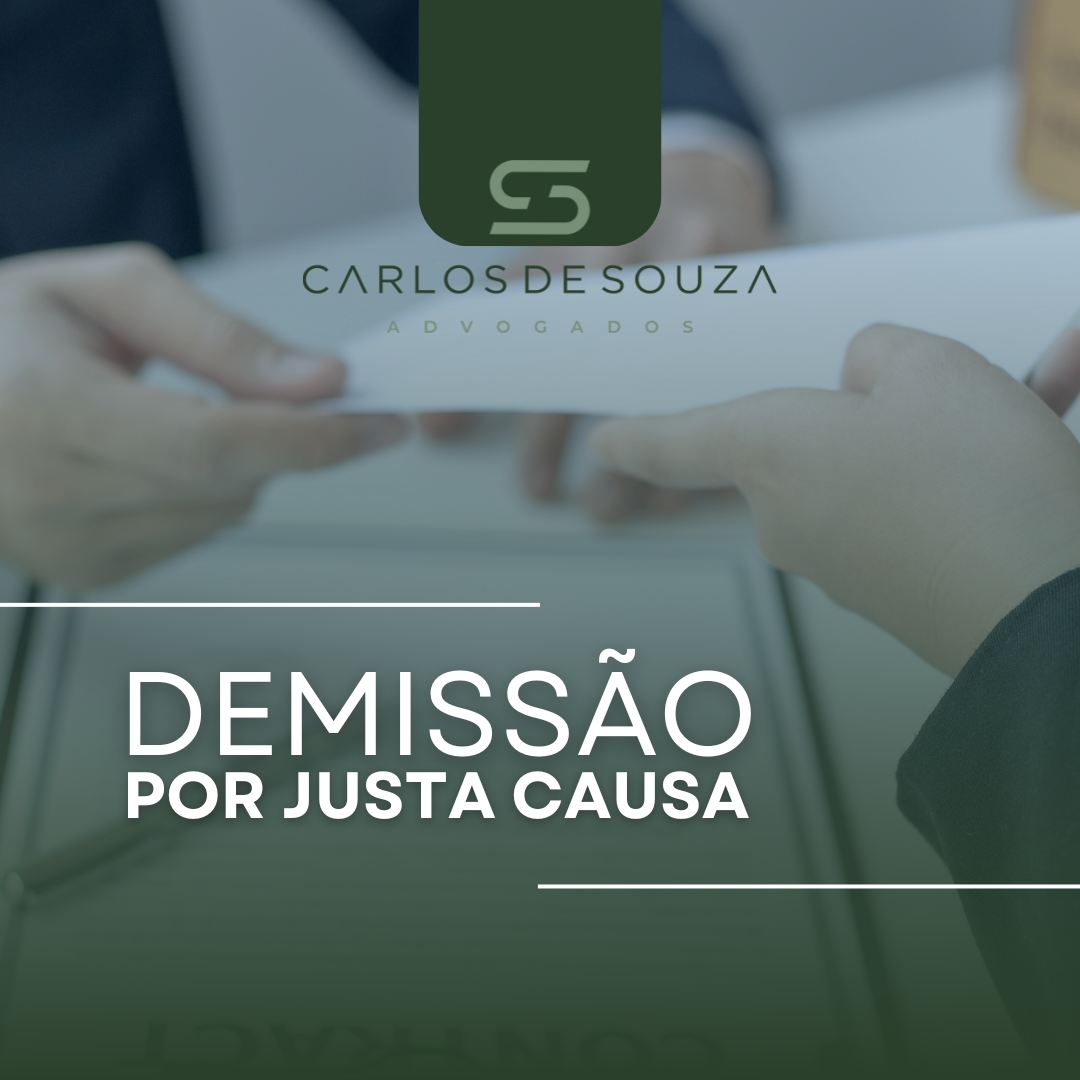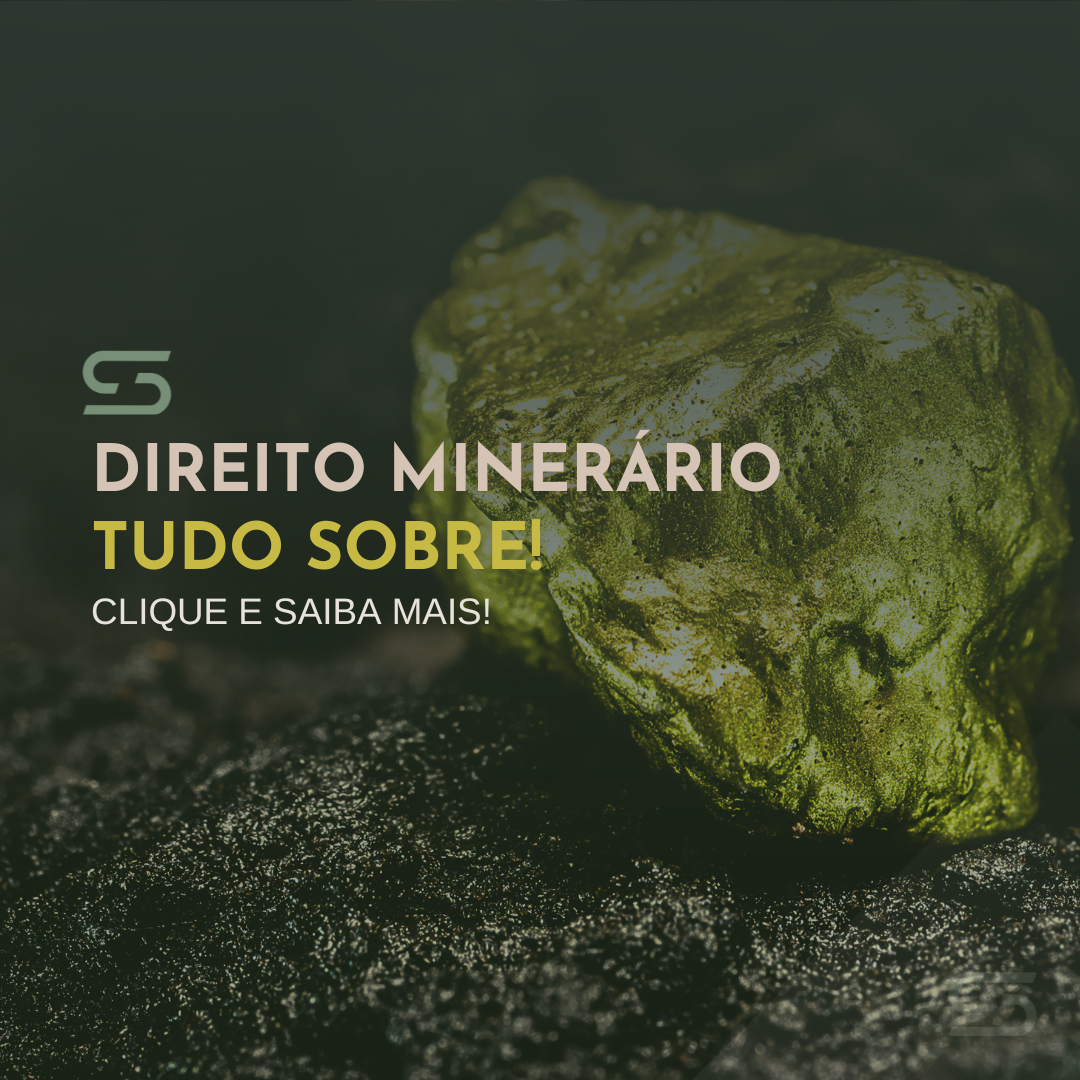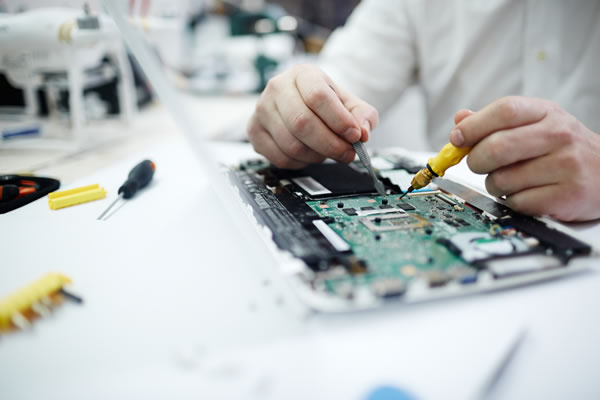As Leis 11.101/05 e 14.112/20 dispõem sobre recuperação judicial, extrajudicial e falência do empresário e da sociedade empresária e se constituíram numa excelente alternativa para a classe empresarial, quando esta se encontra em dificuldade para arcar com seus compromissos, mas ainda há viabilidade para aquele empreendimento, necessitando-se, contudo, que haja um gap para a continuidade do cumprimento das obrigações assumidas ou a novações de dívidas, que são renegociações para que as formas de pagamentos sejam adequadas à realidade daquele momento pra frente. Uma das modalidades de reestruturar uma empresa, a recuperação judicial é realmente uma valorosa ferramenta jurídica para o realinhamento da empresa, contudo, culturalmente as empresas que se socorrem desse instrumento processual acabam por sofrer retaliações de fornecedores, que tendem, muitas vezes, a não quererem fazer negócio com as recuperandas. Por isso, é válido avaliar a viabilidade e tentar uma recuperação extrajudicial ou a livre negociação com credores, a partir da criação de uma estratégia para negociar com os credores, expondo-lhes os pontos negativos da judicialização para perquirir créditos, quando há um devedor disposto a pagar, desde que lhe seja oportunizada uma condição dentro do que consegue suportar. Geralmente essas negociações são feitas sob sigilo e o mercado dificilmente toma conhecimento, o que é um ponto sobremaneira positivo para a empresa que está buscando se reestruturar. Entretanto, se as partes sentirem necessidade do amparo da Justiça, se entenderem que a homologação judicial do plano de recuperação oferecerá mais segurança jurídica, a Lei 14.112/20 trouxe essa possibilidade que, inclusive, pode ter o condão de vincular até mesmo credores que não tenham aderido ao plano, mas que façam parte da classe abrangida, cuja aprovação tenha se dado por pelo menos 50% dos titulares do montante devido. E, para comprometer os credores que já tenham aderido ao plano e motivar os que ainda não tenham aderido para que seja alcançado o percentual mínimo de 50%, é possível requerer a homologação judicial do plano com a adesão de apenas 1/3 dos credores do montante do débito, todavia, dentro do prazo de 90 dias a recuperanda deverá comprovar a adesão dos credores restantes que sejam suficientes para alcançar os 50% da dívida. Ressalta-se que essa adesão de credores à homologação judicial, quando for o caso, dá-se por classe. As classes de credores são assim divididas: (i) trabalhistas, (ii) detentores de direitos reais de garantias ou privilégios especiais, (iii) quirografários e com privilégios gerais e microempresas e (iv) empresas de pequeno porte. Inicia-se o pagamento por uma classe e após cumpridos os compromissos com essa classe de credores, passa-se para a seguinte. Quando incluída no plano a classe de credores trabalhistas, deverá haver um acordo coletivo com o sindicato dos trabalhadores ou se os trabalhadores possuírem advogados particulares, poderá ser negociado com cada um através de seus respectivos causídicos ou, ainda, pode ser buscado junto à presidência do TRT local um Ato Trabalhista que concentre todas as execuções e pagamentos dentro de um percentual do faturamento da empresa recuperanda. Concluo este breve texto salientando que sempre que possível, ao meu ver o melhor caminho para as empresas em dificuldade financeira é fazer um plano de reestruturação econômica e financeira através de negociações entre advogados com essa expertise e cada credor, dentro do contexto das peculiaridades de caso por caso, pois assim a preservação da imagem da recuperanda terá maior possibilidade de ser preservada perante o mercado. Rodrigo Carlos de Souza – Sócio Fundador do Carlos de Souza Advogados, Diretor Seccional de Prerrogativas e Valorização da Advocacia da OAB/ES, Corregedor Geral Adjunto da OAB/ES, Membro Consultor da Comissão Nacional de Prerrogativas e Valorização da Advocacia do Conselho Federal da OAB, Diretor do CESA/ES (Centro de Estudos das Sociedades de Advocacia, Seccional Espírito Santo). Foto: Freepik Artigo publicado pelo Jornal On-Line Folha Vitória: https://www.folhavitoria.com.br/geral/blogs/direito-ao-direito/2022/12/21/reestruturacao-de-empresas-2/
O “couvert artístico” é o valor ou taxa cobrada individualmente dos clientes, em restaurantes, bares, lanchonetes ou outros estabelecimentos que possuem atrações musicais ou culturais, ao vivo. A dúvida de diversos clientes/consumidores é sobre sua legalidade, e, consequentemente, obrigatoriedade ou não no pagamento da referida taxa. Inicialmente, é importante ressaltar que não há uma lei propriamente dita que regule a prática da cobrança pelo “couvert artístico”, o que significa dizer que não há uma obrigação legal para o pagamento da referida taxa. Entretanto, o Código de Defesa do Consumidor (CDC), em seu art. 6º, inciso III, traz o entendimento de que o consumidor deverá pagar pelo serviço, desde que o comunicado de cobrança tenha sido disposto de forma antecipada, clara, e, preferencialmente, na entrada do estabelecimento. Não sendo respeitada a regra para essa comunicação, o artigo 39 do ordenamento jurídico anteriormente citado dispõe que “o consumidor não será obrigado a pagar por esse serviço”. Ou seja, caso o consumidor não tenha sido previamente informado acerca da referida cobrança; se o valor cobrado for superior ao anteriormente informado; e/ou se o serviço fora prestado de forma diferente do ofertado, como por exemplo, a música for colocada em forma de playback, poderá ser exigida a retirada da cobrança. Nestes casos, o consumidor pode, primeiramente, conversar com o estabelecimento para resolver a situação de forma amigável, e, não obtendo êxito, poderá registrar Boletim de Ocorrências (BO) contra o estabelecimento e abrir reclamação junto ao PROCON ou, ainda, ajuizar demanda direto no Judiciário. Fora as práticas erradas apontadas anteriormente, é totalmente legal a cobrança se houve algum aviso ostensivo de que será cobrado o “couvert” artístico. Melissa Barbosa Valadão Almeida, associada de Carlos de Souza Advogados, especializada em Direito Civil e Comercial. Artigo publicado pelo Jornal On-line Folha Vitória: https://www.folhavitoria.com.br/geral/blogs/direito-ao-direito/2022/12/19/couvert-artistico-e-sua-ilegalidade/
A CLT assegura aos pais, de modo geral, o direito a acompanhar o seu filho de até seis anos de idade em consultas médicas, um dia por ano (art. 473, XI da CLT). Para os pais de crianças com até quatro anos de idade, é prevista a prioridade na ocupação de vagas destinadas aos trabalhadores em regime de teletrabalho (art. 75-F, da CLT). No entanto, não há na CLT direitos específicos aos pais de crianças portadoras de necessidades especiais. Algumas Convenções e/ou Acordos Coletivos de Trabalho preveem condições especiais de trabalho para empregados pais de filhos portadores de condições especiais, porém, não se trata de uma situação comum de se encontrar nas normas coletivas, além do que, possuem abrangência restrita às categorias profissional e econômicas convenentes (na hipótese de Convenção Coletiva de Trabalho), ou a empregados de uma específica empresa (na hipótese de Acordo Coletivo de Trabalho). Há até um Projeto de Lei do Senado em trâmite (PLS nº 110/2016), que propõe, exatamente, a redução de 10% da jornada de trabalho de pais de filhos com algum tipo de deficiência, sem redução do salário. Porém, referido Projeto de Lei ainda não foi aprovado pelo Senado, e já conta com um parecer desfavorável apresentado pela Comissão de Assuntos Sociais (CAS), sob o fundamento de que, em que pese a nobreza dos objetivos do Projeto de Lei, há o “risco de discriminação dos trabalhadores eventualmente beneficiados, tanto no processo de admissão ou contratação, quanto posteriormente no ambiente de trabalho”. No entanto, ainda sem conclusão. Por outro lado, a Lei 8.112/90 garante ao servidor público federal que tenha cônjuge, filho ou dependente com deficiência, o direito à jornada especial de trabalho (art. 98, § 3º). Alguns estados, como no caso do Pará, da mesma forma, garantem aos servidores públicos a redução de jornada. Já para os servidos públicos municipais ou estaduais onde não há lei específica prevendo a redução da jornada para os servidores que tenha filho portador de necessidade especial, o STF irá submeter a julgamento Recurso Extraordinário (RE 1237867), que teve reconhecida a repercussão geral pelo Plenário (TEMA 1097) e em que se discute a possibilidade de redução da jornada de trabalho do servidor público que tenha filho ou dependente com deficiência. A decisão recorrida foi proferida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, que negou o pedido formulado pela servidora pública estadual ao fundamento de que não há previsão legal do direito vindicado. Para os trabalhadores da iniciativa privada, contudo, a situação é mais complicada, porém, é possível obter decisão judicial favorável no sentido de permitir o trabalho em condição especial para acompanhar o tratamento do filho, a partir da interpretação conjunta da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD), do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei 13.146/2015), da Declaração Universal dos Direitos Humanos, além do próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, pelo qual o interesse e bem estar da criança é soberano ao dos outros. Há decisões recentes da Justiça do Trabalho de São Paulo e também do Distrito Federal, além do próprio TST garantindo também ao empregado celetista o direito à condição especial de trabalho para cuidar de filhos ou dependentes com necessidades especiais, sem que haja redução do salário. A 3ª Turma do TST concedeu redução de jornada para uma trabalhadora que possui uma filha com Síndrome de Down. O Ministro Relator ressaltou em seu voto que “a pessoa com deficiência que não possui a capacidade plena tem encontrado apoio na legislação, mas não o seu cuidador, o qual assume para si grande parte do ônus acarretado pela deficiência de outrem, como se ela própria compartilhasse da deficiência”, concluindo que, “se há direitos e garantias, como por exemplo a flexibilidade de horário, àqueles que possuem encargos resultantes de sua própria deficiência, é inadequado afastar o amparo legal e a aplicação analógica aos que assumem para si grande parte desses encargos” (RR-10409-87.2018.5.15.0090). As decisões proferidas neste sentido representam verdadeiro avanço social em busca da igualdade de oportunidades para portadores de deficiência e seus familiares que se dedicam aos seus cuidados. No entanto, é importante a discussão legislativa a respeito de tema tão relevante, visando equilibrar, de um lado, o interesse do familiar em conseguir trabalhar e, ao mesmo tempo, dedicar-se ao cuidado do filho ou dependente com deficiência e, de outro lado, o interesse da empresa privada, pelo que interessante seria a contrapartida do Governo no sentido de conceder algum tipo de benefício (como a redução de impostos, por exemplo), como forma de desonerar o empresário e reduzir o risco de discriminação no momento da contratação. Também é possível que o trabalhador obtenha direito ao filho com deficiência, independentemente da idade, ao recebimento do Benefício de Prestação Continuada (PBC) pelo INSS, desde que comprovada a deficiência e renda familiar baixa. Rodrigo Silva Mello e Roberta Conti R. Caliman, sócios de Carlos de Souza Advogados, são especializados em Direito Trabalhista. Foto: Pixabay Artigo publicado pelo Jornal On-line Folha Vitória: https://www.folhavitoria.com.br/geral/blogs/direito-ao-direito/2022/12/16/pais-que-tem-filhos-portadores-de-necessidades-especiais-direito-a-reducao-da-jornada/
Não há fórmulas mágicas para salvar o devedor da falência. Falido o devedor, que pode ser tanto a pessoa jurídica, quanto a pessoa física dos sócios, desde que não exista impedimento legal – como ocorre nos casos de modelo societário de responsabilidade limitada –, é chegada a hora da transformação do patrimônio existente em dinheiro visando o pagamento dos credores. A intenção da lei é a de que processo falimentar tramite de forma célere, com objetivo de impedir ou mitigar que a passagem implacável do tempo exerça prejuízo sobre o patrimônio, diminuindo seu valor e gerando obstáculo ao pagamento de todos os credores. Por uma série de fatores que não cabe explorar no presente ensaio, os processos falimentares no Brasil, em média, são finalizados após dez anos de tramitação, e recuperam algo em torno de 6,1% da dívida a ser paga, conforme estudo realizado pelo Observatório da Insolvência, que foi desenvolvido pela Associação Brasileira de Jurimetria (ABJ) em parceria com o Núcleo de Estudos de Processos de Insolvência (NEPI) da PUC-SP. Desta forma, não havendo bens ou, principalmente, se os bens do devedor forem insuficientes para pagamento dos credores, o entendimento da Lei 11.101/2005, é o de que esta é uma causa para a finalização do processo, também constituindo motivo para a eliminação das suas obrigações, conforme previsão contida no inciso VI, do artigo 158, conjugado com o artigo 159, desde consiga demonstrar a ausência de dívida tributária, na forma do artigo 191, da Lei nº 5.172/1966. Então, a insuficiência de bens do devedor na falência, embora não tenha o condão de mudar a sentença que a decretou, obsta a sequência do processo, eliminando as suas obrigações. Raphael Wilson Loureiro Stein é Associado do Escritório desde abril de 2019 e atua nas áreas: Contencioso Civil, Comercial e Recuperação de Empresas e Falência. Foto: Freepik Artigo publicado pelo Jornal On-line Folha Vitória: https://www.folhavitoria.com.br/geral/blogs/direito-ao-direito/2022/12/15/a-insuficiencia-de-bens-do-falido-e-a-extincao-das-suas-obrigacoes/
Há uma frase em latim que diz “Dormientibus Non Socurrit Jus” (o direito não socorre os que dormem). A lei determina prazos, de acordo com cada caso, para que as pessoas obtenham, na prática, o seu direito. Portanto, não basta ter direito a algo, é preciso que tal direito seja pleiteado dentro de um certo tempo. Este limite temporal para se exercer a pretensão a um determinado direito, ou bem da vida, é necessário para garantir a segurança jurídica nas relações sociais. É pacífico o entendimento dos tribunais brasileiros de que o direito ao reconhecimento da paternidade, que se dá por intermédio da ação denominada investigação de paternidade, é um dos direitos que não encontra limite no tempo, representando uma exceção à regra mencionada. No entanto, o mesmo não ocorre com respeito a pretensão do suposto filho de pleitear a herança! Assim, mesmo antes de concluída a ação de investigação de paternidade, ou ainda que sequer tenha se iniciado este processo, o suposto filho, ou filha, deve pleitear a herança. Em julgamento ocorrido em dezembro de 2019, a 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça entendeu que o termo inicial do prazo prescricional para ajuizamento de petição de herança é a abertura da sucessão, o que ocorre com o falecimento do autor da herança. (AREsp 479.648). No mesmo passo decidiu recentemente a 3ª. turma no REsp 1.368.677, ou seja, que o prazo de 10 (dez) anos para o suposto filho pedir a herança começa a correr a partir do evento morte. O STF, quando era competente para julgamento desta matéria, já reconhecia a prescritibilidade da ação de petição de herança, e editou em 1963 a Súmula nº 149: “É imprescritível a ação de investigação de paternidade, mas não o é a de petição de herança”. Tal entendimento se baseia no art. 1.784 do Código Civil, que diz que aberta a sucessão, o domínio e a posse da herança transmitem-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários, portanto, aquele filho(a), que ainda não obteve uma sentença de reconhecimento, terá direito de ação para buscar sua porção na herança, que ficará reservada até que seja definida a situação a ser apurada na ação de investigação de paternidade. Isso ocorre porque a sentença da ação de investigação de paternidade vem para reconhecer a paternidade que sempre existiu. Como já afirmado, a prescrição tem por objetivo promover segurança jurídica, estabilidade das relações sociais e paz social. A regra é, pois, a prescritibilidade das pretensões, principalmente as patrimoniais como a petição de herança que objetiva restituição de herança ou parte dela. Para que o pedido do herança do suposto filho(a) não seja alcançado pela prescrição no curso da ação de investigação de paternidade, este deve cumular o pleito de investigação de paternidade com a petição de herança, para que ocorra a reserva de quinhão hereditário, caso contrário o pedido de herança do suposto filho é alcançado pela prescrição, tendo em vista que o que se almeja é a proteção dos bens referentes à herança até que seja finalizada a discussão sobre a real filiação do peticionário. Portanto, o prazo de 10 anos para petição de herança se inicia mesmo sem a prévia investigação de paternidade ou conclusão desta ação, caso esteja em curso. Chrisciana Oliveira Mello, sócia de Carlos de Souza Advogados, aluna especial do curso de mestrado em Processo Civil da Universidade Federal do Espírito Santo. Foto: Pixabay Artigo publicado pelo Jornal On-line Folha Vitória: https://www.folhavitoria.com.br/geral/blogs/direito-ao-direito/2022/12/12/a-investigacao-da-paternidade-e-o-prazo-para-peticao-de-heranca/
À luz da mais nobre doutrina de Pontes de Miranda, o dano moral é aquele classificado da seguinte forma: “Nos danos morais, a esfera ética da pessoa é que é ofendida: o dano não patrimonial é o que, só atingindo o devedor como ser humano, não lhe atinge o patrimônio”. Ou seja, o dano moral é aquele que não atinge diretamente a riqueza ou ao patrimônio da vítima, entretanto, atinge a sua dignidade, a sua moral e os seus costumes. Pode-se dizer, portanto, que o dano moral não perturba os bens da pessoa ofendida, mas causa um prejuízo imaterial a sua honra, à sua liberdade, e à sua saúde (mental e física). Nesse contexto, o Judiciário brasileiro possui uma enorme quantidade de processos cujo objeto é a indenização por danos morais. Como são milhares e milhares de processos e muitos deles duram diversos anos, uma dúvida começou a pairar sobre os tribunais do país, quanto à possibilidade de transmissão do direito de indenização por danos morais aos herdeiros da vítima, em caso de falecimento do autor no curso da ação, ou até mesmo para o ajuizamento da ação após o seu falecimento, pelos herdeiros. Como assim? Alguém sofre um dano moral e entra na Justiça pedindo indenização contra o ofensor. Durante o processo, ou até mesmo antes dele ser ajuizado, a vítima (o autor da ação judicial) vem a morrer. O dano moral morre com o ofendido? Ou será que se tornaria um direito indenizatório que os herdeiros da vítima podem reclamar? Muitas discussões depois, o Superior Tribunal de Justiça – SRJ sedimentou o seu entendimento através da Súmula nº 642 aduzindo que: “O direito à indenização por danos morais transmite-se com o falecimento do titular, possuindo os herdeiros da vítima legitimidade ativa para ajuizar ou prosseguir a ação indenizatória”. Trazendo o contexto, para melhor entendimento, podemos citar como exemplo o caso em que um indivíduo, em decorrência de uma cirurgia, sofre danos estéticos e vem a falecer. Nessa situação, seus filhos podem ingressar na Justiça e ajuizar uma ação indenizatória pelos danos morais sofridos, na condição de herdeiros desse direito, mesmo que não tenham suportado pessoalmente esse desgaste emocional e físico. Conclui-se assim que, embora o dano moral seja um direito personalíssimo, os herdeiros do falecido podem ajuizar ou prosseguir com ação indenizatória em razão de ofensa moral suportada pelo falecido. A orientação é que um advogado de confiança seja consultado o mais breve possível, sobretudo nos casos de ajuizamento da ação, uma vez que o crédito exigível decorrente da indenização poderá ser prescrito pelo tempo. Kézia Miez Souza, associada de Carlos de Souza Advogados e membro da Comissão de Direito Tributário da OAB/ES, atua na área de Direito Tributário. Foto: Freepik Artigo publicado pelo Jornal On-line Folha Vitória: https://www.folhavitoria.com.br/geral/blogs/direito-ao-direito/2022/12/08/danos-morais-herdados/
Compliance é uma palavra/expressão que remete a estar em conformidade com as normas legais Na prática, a implantação do compliance em ambientes empresariais leva a empresa a buscar estar em conformidade com normas, leis, padrões, regulamentos internos e externos. Logo, estando em conformidade, a empresa minimiza riscos e guia os negócios de forma mais organizada, legal e correta, dentro do que a lei determina. De acordo com Marcos Assi (2013), compliance é “um sistema de controle interno que permite esclarecer e proporcionar maior segurança àqueles que utilizam a contabilidade e suas demonstrações financeiras para análise econômico-financeira.” Ou seja, em suma, são ações colocadas em prática voltadas a garantir relações éticas e transparentes dentro da rotina empresarial, evitando problemas maiores no futuro, logo, tendo-se uma função preventiva. Embora já muito utilizado em diversos países, o compliance começou a ter mais destaque no Brasil no ano de 2013, quando houve a publicação da Lei nº 12.846/2013, que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira, e dá outras providências, também chamada de lei anticorrupção. O compliance tem diversos tentáculos e pode abranger todo o escopo de uma atividade empresarial. Além da área criminal, aqui abordada, registra-se que o compliance também tem aplicação, mas não se limitando, na área tributária, ambiental, trabalhista, na proteção de dados. Já o compliance criminal é uma área com o foco de implementar diretrizes dentro das rotinas da empresa para diminuir e coibir condutas danosas, por meio de seus sócios e colaboradores, de forma preventiva, usado para identificar algum possível risco de atitude que, em tese, poderia ser considerada um crime. Como exemplo, o compliance criminal está ligado ao combate a crimes financeiros, de corrupção, de lavagem de dinheiro, crimes tributários e crimes ambientais. Além disso, a implantação do compliance criminal é um ponto positivo para empresa, visto que melhora sua credibilidade, seu status e sua reputação perante todo o mercado, posto que sinaliza a preocupação dos gestores em obedecer e estar em conformidade, de forma preventiva, com as normas e leis. Com isso, conclui-se que, se a empresa tem a capacidade de visualizar as particularidades de cada atividade com uma boa organização interna, estará garantindo um ambiente seguro. Samuel Lourenço Kao Yien, associado de Carlos de Souza Advogados, atua na área de Direito Criminal. Foto: Freepik Artigo publicado pelo Jornal On-line Folha Vitória: https://www.folhavitoria.com.br/geral/blogs/direito-ao-direito/2022/12/07/compliance-criminal/
É muito comum que o consumidor, no ato da compra de um produto, seja informado acerca do período de garantia, alusivo ao prazo que lhe garante o reparo ou o ressarcimento do valor pago pelo produto, caso seja identificado defeito. O que poucos consumidores sabem, entretanto, é que existem pelo menos três tipos de garantia, e que, em determinados casos, o consumidor pode ser reparado por vícios identificados mesmo após o fim do período da garantia oferecida pelo fornecedor. A primeira modalidade de garantia é a legal, estabelecida pelo próprio Código de Defesa do Consumidor, e independe de previsão contratual, autorização do fornecedor ou modalidade do produto. De acordo com o artigo 18 do CDC, o consumidor tem 30 dias para reclamar de problemas com o produto se ele não for durável, e 90 dias em caso de produtos duráveis (eletrodomésticos, por exemplo). A segunda modalidade de garantia é a contratual, que é fornecida pelo fabricante do produto, geralmente mediante contrato ou termo, através da qual, por liberalidade, o fabricante agrega mais tempo de garantia. O termo inicial é a data da emissão da nota fiscal e estende-se por geralmente 12 meses. Nesses casos, o CDC determina que a garantia contratual soma-se à legal, complementando-a. Geralmente não há valor cobrado pelo fornecedor para esta modalidade de garantia. A terceira modalidade de garantia é a estendida, comumente oferecida pelo fornecedor mediante pagamento de uma taxa adicional, destinada a uma empresa terceirizada que funciona como um “seguro”, que poderá ser acionado caso haja algum problema com o produto dentro do período contratado. Mas o que fazer caso o problema seja identificado após o período de garantia contratado junto ao fornecedor? O consumidor pode acioná-lo e reivindicar o ressarcimento do valor pago pelo produto ou mesmo o reparo? O que poucos sabem, é que o Código de Defesa do Consumidor impõe ao fornecedor a obrigação de responder por defeitos de fabricação até mesmo após o fim do período de garantia legal e contratual, quando se tratar dos vícios ocultos, quais sejam, os defeitos que não são facilmente identificados, podendo demorar até mesmo anos para virem à tona. Com relação a esta modalidade de vício, o CDC estabelece que o consumidor tem direito à reparação até o final da vida útil do produto, e o prazo para reclamação começa a contar a partir do momento em que o defeito for identificado. Assim, ainda que o fornecedor não entregue esta informação, esteja atento, uma vez que ainda é possível buscar por reparação caso o vício oculto se apresente, mesmo após anos de uso do produto. Giselle Duarte Poltronieri, associada de Carlos de Souza Advogados, atua nas áreas Contencioso Civil e Comercial. Foto: Freepik Artigo publicado pelo Jornal On-Line Folha Vitória: https://www.folhavitoria.com.br/geral/blogs/direito-ao-direito/2022/12/05/defeito-no-produto-identificado-apos-o-fim-da-garantia-obriga-o-fornecedor-a-repara-lo-3/
Em 05/09/2022 foi sancionada, com veto, pelo Presidente da República, a Lei nº 14.442/2022, oriunda da Medida Provisória (MP) 1.108 de 2022, que regulamenta o teletrabalho e altera regras do auxílio-alimentação. A reforma trabalhista (Lei 13.467/2017) inseriu o capítulo II-A, passando a prever a modalidade de prestação de serviços em regime de teletrabalho. De acordo com o art. 75-B da CLT, considerava-se teletrabalho ou trabalho remoto a prestação de serviços realizada preponderantemente fora das dependências do empregador, com a utilização de tecnologia de informação e comunicação. No entanto, discutia-se muito a possibilidade de se adotar um modelo híbrido de teletrabalho ou trabalho remoto, de modo que empregado e empregador pudessem, livremente, adotar uma modalidade de trabalho que envolvesse tanto o trabalho presencial quanto o trabalho remoto, em forma de revezamento, conhecido como trabalho híbrido, porém, modelo de prestação de serviços não previsto na CLT. Com a entrada em vigor da Lei 14.442/2022, em que pese não tenha sanado todas as dúvidas referentes à modalidade de trabalho híbrido ou regulamentado diretamente essa forma de prestação de serviços, alterou a redação do art. 75-B da CLT, conceituando o teletrabalho de forma mais clara, passando a prever que o teletrabalho ou trabalho remoto seria a modalidade de prestação de serviços realizada fora das dependências do empregador, “de maneira preponderante ou não”, com a utilização de tecnologia de informação e de comunicação, que, por sua natureza, não configure trabalho externo. Ou seja, a CLT, anteriormente, exigia que o teletrabalho ou trabalho remoto fosse realizado preponderantemente fora das dependências do empregador, porém, com as alterações propostas pela Lei 14.442/2022, não mais é exigida a preponderância da prestação de serviços fora das dependências da empresa, permitindo que empregado e empregador tenham mais liberdade para definirem um revezamento de atividades presenciais ou telepresenciais, sem que seja necessária a preponderância de atividades remotas. O § 1º do art. 75-B da CLT, prevê também que o comparecimento do empregado, ainda que de modo habitual, às dependências da empresa para realização de atividades específicas que exijam sua presença, não descaracteriza o regime de teletrabalho ou trabalho remoto. A lei, contudo, exige que o trabalho telepresencial ou remoto conste expressamente no contrato de trabalho, podendo ainda as partes dispor sobre os horários e os meios de comunicação entre empregado e empregado, desde que assegurados os repousos legais. Além disso, a lei prevê que “as vagas para trabalho remoto devem ser preenchidas preferencialmente por pessoas com deficiência ou empregados que tenham filhos ou crianças sob guarda judicial de até 4 anos de idade”, bem como permite a adoção da modalidade de prestação de serviços também para estagiários e aprendizes. Com a Lei 14.442/2022, o regime de teletrabalho se dará por diferentes modelos de contratação, podendo ser por jornada, produção ou tarefa. Isso garante maior flexibilidade nas contratações, já que muitas empresas precisam de apoios pontuais e não podem arcar com um empregado fixo para determinadas tarefas. Com a nova lei, empregado e empregador poderão decidir sobre a presença ou não em determinados dias sem que seja necessária alteração no contrato de trabalho. Isso porque, como mencionado, o artigo 75-C prevê a necessidade de previsão expressa no contrato individual de trabalho para o exercício do teletrabalho e o registro em aditivo contratual no caso de alteração para o trabalho presencial. Esta exigência visa evitar a necessidade de diversos e reiterados aditivos contratuais decorrente da alternância do local de trabalho. Como se pode observar, as alterações trazidas pela Lei 14.442/2022 regulamentam situações que já ocorriam na prática, além de trazer uma nova modalidade de relação de emprego através da atividade por produção ou tarefa. Contudo, eventuais dúvidas e reais problemas na aplicação da Lei 14.442/2022 somente serão observadas com o passar dos anos, a partir da interpretação da jurisprudência sobre as novas regras do regime de teletrabalho ou trabalho remoto. Rodrigo Silva Mello e Roberta Conti R. Caliman, sócios de Carlos de Souza Advogados, são especializados em Direito Trabalhista. Foto: Freepik Artigo publicado pelo Jornal Online Folha Vitória: https://www.folhavitoria.com.br/geral/blogs/direito-ao-direito/2022/12/01/a-regulamentacao-do-trabalho-hibrido/
Está sob discussão no Superior Tribunal de Justiça (STJ) a possibilidade de exclusão do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços sob o regime de substituição tributária (ICMS-ST) da base de cálculo do PIS e da COFINS. Segundo decidiu o Supremo Tribunal Federal (STF), essa discussão é infraconstitucional e, portanto, fora de sua competência. Nesse caso, o STJ é competente para resolver a celeuma. O julgamento dos Recursos Especiais REsp 1896678 e REsp 1958265 teve início no último dia 23 com o voto do Relator, Ministro Gurgel de Faria, em favor dos contribuintes. Ele reconheceu que deve ser aplicado ao ICMS-ST o mesmo entendimento empregado pelo STF, no julgamento do RE 574706. Na ocasião, foi fixada a seguinte tese: “ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS”. Seguindo esse raciocínio, o Ministro Gurgel de Faria propôs a fixação da tese no sentido de que o ICMS-ST não compõe a base de cálculo da contribuição ao PIS e à COFINS devida pelo contribuinte substituído no regime de substituição tributária progressiva. É o que ocorre quando o ICMS é recolhido no início da cadeia produtiva, muitas vezes pelo importador ou pela indústria, em substituição dos demais contribuintes da cadeia. Ocorre o recolhimento antecipado pelo substituto, mas os substituídos arcam com o valor do tributo. Partindo da premissa de que o ICMS-ST também constitui ônus do contribuinte, pois seu valor é incorporado ao valor pago pela mercadoria, uma vez que o valor recolhido antecipadamente está incluído no montante, a exclusão deveria ser obrigatória. O voto proferido pelo Relator indica que o STJ seguirá a posição adotada no julgamento do STF para excluir o ICMS-ST da base de cálculo do PIS e da COFINS, já que o imposto incidiu sobre a operação, ainda que não esteja destacado na nota fiscal. Esse resultado seria muito benéfico aos contribuintes por significar uma oportunidade de recuperar o que foi pago indevidamente e reduzir a pesada carga tributária. Mariana Martins Barros é advogada tributária, sócia coordenadora da área tributária do Escritório Carlos de Souza Advogados e membro da Comissão de Direito Tributário da OAB/ES. Artigo publicado pelo Jornal On-Line Folha Vitória: https://www.folhavitoria.com.br/geral/blogs/direito-ao-direito/2022/11/25/icms-st-podera-ser-excluido-da-base-de-calculo-do-pis-e-da-cofins/ Foto: Freepik