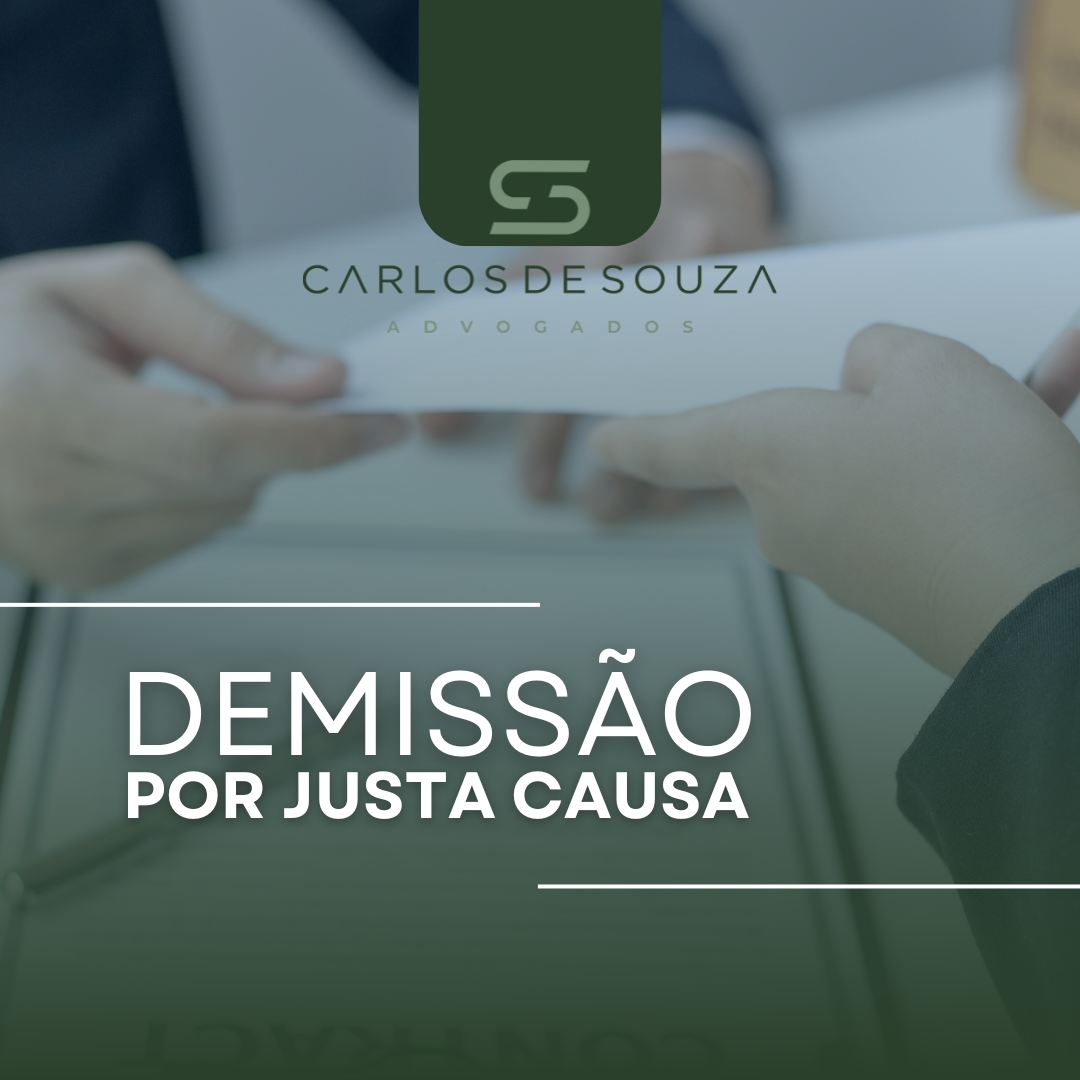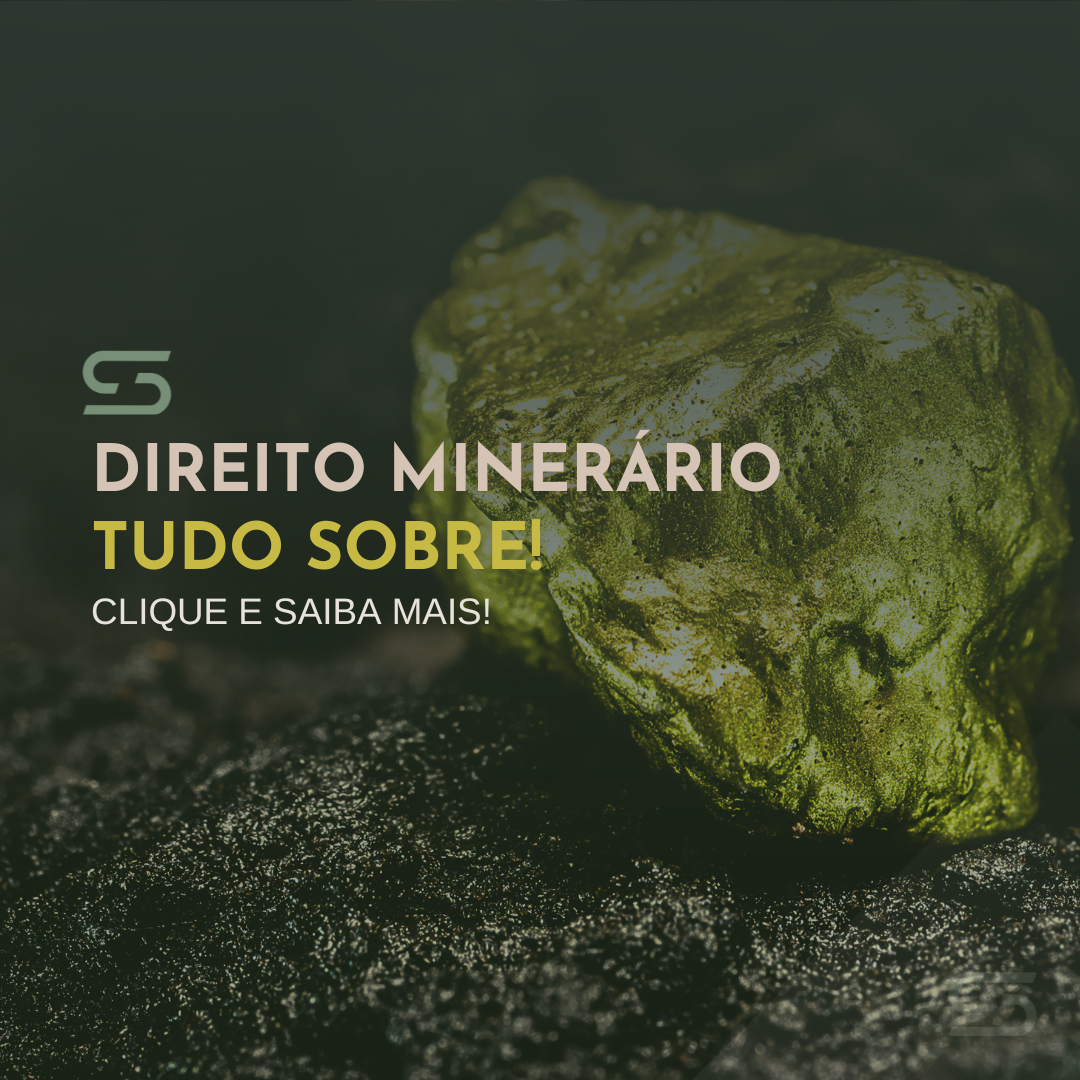Clique no link e confira o Boletim: http://r.mkt.carlosdesouza.com.br/3gdp6qwjgclpfe.html?t=1649442242
Está em julgamento a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 2446, em que a Confederação Nacional do Comércio – CNC questiona a inconstitucionalidade da norma antielisão contida no artigo 1 da Lei Complementar (LC) 104/2001, que incluiu o parágrafo único ao artigo 116 do Código Tributário Nacional. Trata-se do dispositivo legal que permite ao Fisco desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária. A norma foi instituída com o objetivo de combater o planejamento tributário praticado com abuso de forma ou de direito, conforme consta da exposição de motivos da LC 104/2001. Merece destaque o entendimento da Ministra Carmen Lúcia, relatora da ADI, no sentido de que a desconsideração autorizada pelo dispositivo está limitada aos atos ou negócios jurídicos praticados com intenção de dissimulação ou ocultação do fato gerador da obrigação tributária. Ou seja, privilegia-se a manutenção do planejamento tributário lícito, feito nos limites da lei. O contribuinte não está impedido de buscar a melhor forma de economia tributária, de fazer o melhor arranjo que lhe permita pagar menos tributos. Inclusive, a Relatora afirmou em seu voto que “a norma não proíbe o contribuinte de buscar, pelas vias legítimas e comportamentos coerentes com a ordem jurídica, economia fiscal, realizando suas atividades de forma menos onerosa, e, assim, deixando de pagar tributos quando não configurado fato gerador cuja ocorrência tenha sido licitamente evitada”. O que poderá macular o planejamento tributário é a omissão do pagamento do tributo devido através de práticas que tenho o objetivo de ocultar o fato gerador. Na realidade, aconselha-se que os contribuintes revejam seus procedimentos internos, seu modelo de negócios, criticamente para buscarem melhores oportunidades de economia tributária. Mariana Martins Barros é advogada tributária, sócia coordenadora da área tributária do Escritório Carlos de Souza Advogados e membro da Comissão de Direito Tributário da OAB/ES. Artigo publicado pelo Jornal Online Folha Vitória: https://www.folhavitoria.com.br/geral/blogs/direito-ao-direito/2022/04/08/a-norma-antielisao-e-o-julgamento-do-stf/
Em agosto do ano de 2006 foi sancionada a Lei nº 11.340, popularmente conhecida como Lei Maria da Penha. O objetivo da criação de tal norma foi a tentativa de coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, bem como a criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. De forma histórica, existem diversas formas de violência contra a mulher, as quais podem ser encontradas e definidas no artigo 7º da referida Lei, quais sejam: violência física, que se resume em qualquer prática que ofenda a sua integridade física ou saúde; violência psicológica, que são práticas que causem dados emocionais; violência sexual, consistente em formas de constrangimento a presenciar, manter ou a participar de relação sexual de forma não desejada; violência patrimonial, que se resume em atos que impeçam o uso de seus bens, direitos e recursos financeiros, bens ou documentos pessoais ou de trabalho; violência moral, que abrange calúnia, difamação ou injúria. Ainda de forma acessória, se faz necessário demonstrar, para entendimento do assunto central do presente artigo, mesmo que bem resumidamente, a existência e o respectivo conceito de diferentes ações penais, sendo elas: ação penal pública incondicionada, quando o Ministério Público, ao tomar conhecimento do acontecimento de um crime, deve denuncia-lo; ação penal pública condicionada à representação, ocasião em que o Ministério Público somente poderá denunciar caso a vítima ou seu representante legal demonstre seu interesse; ação penal privada, cabível se a própria vítima do crime deve iniciar o processo, através da queixa-crime. Salienta-se que nem todos os crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher são de ação penal pública incondicionada, ao contrário ao que muitos acreditam. Passados os assuntos acessórios, chega-se ao ponto alvo do presente artigo, qual seja, se é possível que a queixa-crime ou denúncia podem ser retiradas pela vítima em caso de desistência. Em outras palavras, se é possível que haja a desistência pela vítima do processo de violência doméstica (Maria da Penha), na hipótese de a mulher se arrepender de ter exposto o fato ocorrido. Por mais estranho que seja, o fato é que é comum uma mulher ser vítima de violência doméstica, denunciar e, mais adiante, “se arrepender da denúncia” por não querer ver o pai de um filho ou o marido / companheiro ser processado e preso. Voltando à pergunta: é possível a mulher desistir da denúncia? A resposta para tal questionamento é que depende, mas de quê? Depende de qual é o crime, ou seja, qual procedimento cabível e enquadrado pelo tipo penal, bem como quando deseja se retratar. O que determina isso é o artigo 16 da Lei Maria da Penha, que preceitua que só será admitida a renúncia ao processo, ou seja, a desistência de seguir com o processo se a ação for penal pública condicionada à representação. Ademais, outro requisito para que haja a renúncia é a ocorrência de uma audiência para tanto, antes do recebimento da denúncia e ouvido o representante do Ministério Público. Como exemplo de crimes que possibilitam a desistência posterior por parte da vítima, ou seja, crimes que permitem a renúncia do processo por parte da vítima: crimes contra a honra (calúnia, difamação e injúria) e ameaça. Em contrapartida, todos os crimes de lesão corporal, mesmo que leve, dentro do âmbito de violência doméstica, serão considerados ação pública incondicionada, ou seja, haverá o processamento do acusado mesmo se a vítima não desejar, conforme pacificada jurisprudência nacional. Samuel Lourenço Kao Yien, associado de Carlos de Souza Advogados, atua na área de Direito Criminal. Artigo publicado pelo Jornal Online Folha Vitória: https://www.folhavitoria.com.br/geral/blogs/direito-ao-direito/2022/04/06/desistencia-da-mulher-no-processo-de-violencia-domestica/
Em tempos difíceis é preciso estabelecer prioridades. Na vida empresarial a maior prioridade é a imagem, o grande patrimônio de qualquer negócio. A imagem engloba a marca, mas vai muito além dela. É o que se traduz da expressão brand equity: “O Brand Equity é portanto um valor que influencia na forma como o consumidor pensa, sente e age em relação à marca, assim como nos preços, na parcela de mercado e na lucratividade proporcionada pela marca à empresa. O Brand Equity representa um importante ativo intangível que corresponde a um valor psicológico e financeiro da organização. Por que intangível? O Brand Equity é considerado intangível pois não aparece de forma objetiva no balanço da empresa, o que não significa que não possa ser estimado ou mensurado.” (M. Figueira, The Wyse Group). Uma organização, pequena ou grande, está baseada primordialmente naquilo que é o seu objetivo. Se for uma empresa varejista, a sua base é entregar os produtos aos consumidores; numa entidade sindical, o fundamento é defender a respectiva classe; sendo uma associação, estará firmada no que os associados idealizaram como a razão da sua existência. No setor público e na política é a mesma coisa. Qualquer organização gira em torno de um patrimônio, material e imaterial. Por patrimônio material tem-se uma vastidão de coisas: instalações, equipamentos, estoque, contas a receber, investimentos etc. O patrimônio imaterial envolve imagem, marca, participação de mercado, potencial futuro etc. Ambos têm o seu peso nos negócios e nas corporações, e precisam ser preservados. Mas há de se registrar que, ao passo em que um patrimônio material danificado pode ser recuperado de diversas maneiras e, dependendo da situação, até rapidamente, o imaterial, ao sofrer um revés, talvez seja irrecuperável; ou, tendo recuperação, normalmente é de longo curso e profunda dor. Num mês a empresa tem prejuízo. Mas medidas podem ser adotadas e o resultado ser mudado no próximo exercício mensal. Ou no trimestre ou ano seguinte. Isto faz parte do negócio, de certa forma é cíclico. Com o patrimônio imaterial não é exatamente assim. Uma imagem desconstruída pode se atolar nos escombros e nunca mais voltar. Exatamente por isto há de se dar atenção especial à preservação do patrimônio imaterial, e mais ainda à imagem corporativa. A contabilidade da empresa está disponível para poucas pessoas. Já a imagem está exposta para qualquer um: consumidores, concorrentes, autoridades, empregados, qualquer um pode fazer a sua particular avaliação e julgamento de uma imagem corporativa. Num cenário sombrio o julgamento negativo pode ser transformado em rumores. Quando os rumores entram nas redes sociais a multiplicação do impacto se torna incalculável. Vamos a exemplos: 1 – Uma empresa se vê às voltas com um sem número de demandas na Justiça do Trabalho. Isto pode afetar a imagem do negócio? Claro, e muito! Há solução para minimizar os danos? Sim, e deve ser utilizada. Não há, obviamente, fórmula mágica para que, do dia para a noite, esse número excessivo de demandas simplesmente desapareça. Entretanto, a aparência do que está por trás do possível caos pode ser moldada visando reparar e prevenir os prejuízos. 2 – Dificuldades de caixa: em particular nos tempos de crise, tem sido frequente o número de empresas assoladas pelo fluxo negativo de caixa. Como consequência, começam a ocorrer atrasos de pagamentos. Bancos, Fisco, fornecedores de produtos e serviços, toda essa massa começa a ver a corporação de maneira desconfiada. Onde vai dar isto? Falência, recuperação judicial, golpe? Os comentários devastadores vão tomando marcha. 3 – Problemas com clientes: descumprimento de prazos, produtos e serviços defeituosos, falhas nas entregas, atendimento pós-venda lento e não resolutivo. Problemas operacionais? Sim, mas com alcance meteórico em desfavor da imagem corporativa. É possível que as respostas operacionais não sejam rápidas, até por conta de fatores terceiros; mas a resposta de imagem precisa ser imediata. Há de se gerir a crise! 4 – A empresa é sabotada internamente, por um empregado ou até em meio a disputas societárias ou familiares. Não há como deixar a imagem à míngua. O brand equity, ou equilíbrio da marca, ou simplesmente imagem há de ser preservado através de diversas ações de reparo e prevenção. Road shows, presenciais, documentais e eletrônicos,devem ser realizados junto aos formadores de opinião e a todos os que, de uma forma ou outra, poderão influenciar positiva ou negativamente a (des) construção da imagem. Contra-ataques precisam ser minuciosamente planejados; observando a legalidade e cercado dos melhores profissionais (advogados, marqueteiros etc.), mas definitivamente de maneira firme e ousada. Sérgio Carlos de Souza, fundador e sócio de Carlos de Souza Advogados, autor dos livros “101 Respostas Sobre Direito Ambiental” e “Guia Jurídico de Marketing Multinível”, especializado em Direito Empresarial, Recuperação de Empresas e Ambiental. Artigo publicado pelo Jornal Online Folha Vitória: https://www.folhavitoria.com.br/geral/blogs/direito-ao-direito/2022/04/05/cuidado-com-a-imagem-da-sua-empresa-2/
Em decisão proferida no último dia 31 de março, na ADPF 828[1] (arguição de descumprimento de preceito fundamental) com vistas à proteção do direito constitucional à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis, especificamente no contexto da pandemia da Covid-19, o Ministro Luiz Barroso determinou, mais uma vez, o prolongamento dos efeitos da Lei nº 14.216/2021, sendo que desta vez impôs sua prorrogação até 30 de junho de 2022. O Ministro manteve a extensão da suspensão temporária de desocupações e despejos para as áreas rurais, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021, até o prazo de 30 de junho de 2022; formulou “apelo” ao legislador, a fim de que delibere sobre meios que possam minimizar os impactos habitacionais e humanitários eventualmente decorrentes de reintegrações de posse após esgotado o prazo de prorrogação concedido; e, por derradeiro, concedeu parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados em tal norma, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 30 de junho de 2022. Rememora-se que, dentre outras determinações, a lei sob trato suspendeu até 31 de dezembro de 2021 o cumprimento de medida judicial, extrajudicial ou administrativa que resulte em desocupação ou remoção forçada coletiva em imóvel privado ou público, exclusivamente urbano, e a concessão de liminar em ação de despejo de que trata a Lei nº 8.245, de 18 de outubro de 1991 (conhecida como Lei do Inquilinato). Observa-se, adicionalmente, que a aplicação está adstrita aos contratos cujo valor mensal do aluguel não seja superior a R$ 600,00 (seiscentos reais), em caso de locação de imóvel residencial, e R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), em caso de locação de imóvel não residencial. A decisão do relator da ADPF em questão, que foi remetida ao plenário virtual, possui inegável impacto nas relações entre inquilinos/locatários e locadores, de modo que é discutível a necessidade de mais uma prorrogação, neste momento em que os desdobramentos e impactos econômicos decorrentes exclusivamente da pandemia parecem arrefecer, muito embora o Ministro tenha ponderado que a “pandemia da Covid-19 ainda não acabou e as populações vulneráveis se encontram em situação de risco particular”, o que é inegável e se observa pelo crescimento da população em situação de rua e da insegurança alimentar no país. Inobstante este triste cenário, existe a figura do locador, que também se coloca em posição de vulnerabilidade, eis que em muitas vezes tem no imóvel locado única ou principal fonte de sua renda. Neste contexto, a boa-fé, que é um princípio geral que rege o direito contratual, determina que as partes envolvidas utilizem o diálogo franco visando manter o equilíbrio econômico-financeiro dos locatícios contratados e evitando-se que apenas uma parte suporte o ônus integral dos efeitos e impactos econômicos gerados pela pandemia. A negociação e a cooperação, no lugar de discussões judicias intermináveis e custosas, tende a ser o melhor caminho a seguir. Vale lembrar que a possibilidade do despejo pode estar suspensa, mas cedo ou tarde – considerando as sucessivas prorrogações de suspensão de tal penalidade – “a conta vai chegar” para o inquilino, sendo louvável, sobretudo, que prevaleça a boa-fé e o entendimento mútuo entre as partes. Sugere-se, assim, que sejam abertos canais de diálogo entre locador e locatário, por meio de notificações formais de repactuação através de e-mails ou ainda mensagens de notificação via Whatsapp, que devem permanecer sob guarda/gravação, a fim de dar força probatória a estes e conceder-lhes validade em eventuais litígios. https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/despacho1290490/false Chrisciana Oliveira Mello, sócia de Carlos de Souza Advogados, aluna especial do curso de mestrado em Processo Civil da Universidade Federal do Espírito Santo. Artigo publicado pelo Jornal Online Folha Vitória: https://www.folhavitoria.com.br/geral/blogs/direito-ao-direito/2022/04/04/a-nova-prorrogacao-da-suspensao-dos-despejos-e-os-impactos-nas-relacoes-locaticias/
Clique no link e confira o Boletim: http://r.mkt.carlosdesouza.com.br/3gdkz1kjgclpfe.html?t=1648835558
O Supremo Tribunal de Justiça (STF) reafirmou que os Estados e o Distrito Federal não podem instituir o Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD) sobre doação e herança proveniente do exterior. O STF julgou nesse mês 5 Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADI) contra o Distrito Federal e os Estados do Mato Grosso, Paraná, Tocantins e Santa Catarina, para declarar a inconstitucionalidade de parte das leis estaduais que instituíam o ITCMD sobre herança no exterior. No julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 851108, realizado pelo STF em 2021, foi firmada a tese “É vedado aos estados e ao Distrito Federal instituir o ITCMD nas hipóteses referidas no art. 155, § 1º, III, da Constituição Federal sem a intervenção da lei complementar exigida pelo referido dispositivo constitucional”. Apesar de muitos Estados e do Distrito Federal exigirem o ITCMD nessas situações, eles não têm competência legislativa para instituir a cobrança do (ITCMD) em tais hipóteses. Isso porque a competência dos Estados e do Distrito Federal para criar o imposto está cravada no art. 155, I da Constituição Federal, cujo § 1º dispõe sobre a necessidade de lei complementar federal para fixação da competência para instituir o ITCMD sobre doação, quando o doador for residente ou domiciliado do exterior, e quando a pessoa falecida tiver última residência ou bens no exterior, ainda, quando o inventário for processado no exterior. Ou seja, mesmo que não haja lei complementar federal regulando a matéria, e não há, os estados-membros não estão autorizados a editar leis sobre a instituição do tributo com fundamento na competência legislativa concorrente prevista no art. 24 da Constituição Federal. Cabe à lei complementar federal – e não a leis estaduais – regular a competência e a instituição do ITCMD quando o doador tiver domicílio ou residência no exterior ou se a pessoa falecida possuir bens, tiver sido residente ou domiciliada ou tiver seu inventário processado no exterior. Os Estados só podem legislar sobre o assunto se houver lei complementar anterior. Mariana Martins Barros é advogada tributária, sócia coordenadora da área tributária do Escritório Carlos de Souza Advogados e membro da Comissão de Direito Tributário da OAB/ES. Artigo publicado pelo Jornal Online Folha Vitória: https://www.folhavitoria.com.br/geral/blogs/direito-ao-direito/2022/04/01/stf-reafirma-que-estados-nao-poderao-cobrar-itcmd-sobre-heranca-no-exterior/
Uma vez deferido o pedido de soerguimento pelo juiz do caso, suspendem-se as execuções disparadas contra o devedor, estando proibida a realização de arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão, além de constrições judiciais ou extrajudiciais sobre os seus bens, na forma da Lei nº 11.101/2005. Aprovado o plano de recuperação judicial propriamente dito, os credores concursais – cujos créditos existam até a data do pedido de soerguimento – não poderão buscar a satisfação dos mesmos fora daquele processo, situação que infunde um sistema de proteção patrimonial muito bem pensado pelo legislador, e que tem o escopo de garantir ao devedor chances reais de superar a crise econômica e financeira. Esta ideia de proteção patrimonial conta com a contribuição do Poder Judiciário, por intermédio dos seus órgãos jurisdicionais de cúpula, como o Superior Tribunal de Justiça (STJ) e o Supremo Tribunal Federal (STF), que não raro, expedem decisões e teses a serem observadas por toda a magistratura nacional nos casos que tenham similitude fática e jurídica. Foi o que ocorreu recentemente no Recurso Especial nº 1.935.022, oriundo do Estado de São Paulo, que contou com decisão do Ministro Relator, Ricardo Villa Bôa Cueva, seguida à unanimidade pelos demais ministros da Colenda Terceira Turma do Egrégio STJ. No ponto que realmente nos interessa por ocasião deste ensaio, foi decidido que mesmo naqueles casos em que o crédito seja extraconcursal, apenas o juiz da recuperação poderá autorizar os pedidos que visam expropriar o patrimônio do devedor. Decisões desta natureza são muito importantes à própria sobrevivência do sistema jurídico de recuperação e de falências, porque é capaz de impedir, à guisa de exemplo, que o credor detentor de crédito milionário seja capaz de arruinar, sozinho, todo o patrimônio do devedor que tinha viabilidade para se soerguer, o que seria por demais trágico. Portanto, sem esgotar a matéria aqui versada, é possível concluir que o arcabouço jurídico, normativo e decisório do Brasil oferece bases seguras à proteção patrimonial do devedor que idealiza na recuperação judicial, de forma legítima, evitar a falência do empreendimento e ao mesmo tempo ajustar a melhor forma de pagamento da dívida com os credores. Raphael Wilson Loureiro Stein é Associado do Escritório desde abril de 2019 e atua nas áreas: Contencioso Civil, Comercial e Recuperação de Empresas e Falência. Artigo publicado pelo Jornal Online Folha Vitória: https://www.folhavitoria.com.br/geral/blogs/direito-ao-direito/2022/03/30/protecao-patrimonial-do-devedor-na-recuperacao-judicial/
Para muitos, foi surpreendente a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, através do ministro Raul Araújo, que proibiu em evento, cunhado de Lolapalooza, “a realização ou manifestação de propaganda eleitoral ostensiva e extemporânea em favor de qualquer candidato ou partido político por parte dos músicos e grupos musicais que se apresentem no festival, sob pena de multa de R$ 50 mil reais por ato de descumprimento”. A mim não surpreendeu! Explico. Há muito tempo temos visto, e eu já alertei várias vezes isto, manifestações pontuais do Poder Judiciário que extrapolam as suas competências e interferem na divisão tripartite dos Poderes, trincando pilares caros do estado democrático de direito. A decisão do TSE envolvendo o Lolapalooza foi uma tragédia há muito anunciada. Não se trata, aqui nesta escrita, de defender posições políticas ou candidatos. A minha opinião é exclusivamente técnica e vai muito além de pessoas e ideias. O que está em xeque é a liberdade de expressão, um dos princípios constitucionais mais valiosos e que não pode ser ameaçado. O grande problema é que, em vez de simplesmente execrarmos o ministro Raul Araújo, que deu a polêmica decisão envolvendo o tal evento, precisamos voltar um pouquinho no tempo e ver que, a bem da verdade, o ministro está em linha com algumas decisões recentes da mais alta corte do país, o Supremo Tribunal Federal, que tem, não raramente, invadido a esfera dos outros Poderes e colocado cabresto na liberdade de expressão. Pandemia: em vez de as divergências científicas envolvendo medidas de prevenção, vacinas e tratamentos serem tratadas e resolvidas pelas autoridades sanitárias, foi o STF quem disse como, em grande parte, a doença deveria ser enfrentada. Não por outra razão, assistimos constantemente juízes de primeira instância que, da mesma forma, se acharam mais entendidos do que as secretarias de saúde e suspenderam decisões técnicas que lidaram com a pandemia. Notícias falsas: inexistindo uma legislação específica, o Congresso Nacional é a Casa competente para discutir, redigir, votar e aprovar uma lei sobre o assunto. Contudo, a Justiça não quis esperar o Legislativo exercer a sua competência constitucional e “legislou”, além de chegar ao ápice de abrir um inquérito criminal de ofício. Aborto; união de pessoas do mesmo sexo; cumprimento de sentença criminal depois de condenação em segunda instância. Assuntos cuja competência caberia ao Poder Legislativo, mas que receberam a interferência indevida do Judiciário. Vamos agora falar da decisão do ministro Raul Araújo, quanto ao show Lolapalooza. Segundo ele, teria havido “uma propaganda eleitoral extemporânea, ou seja, fora do período eleitoral que podemos classificar como antecipada”. A decisão do TSE foi tão surreal, que o Partido Liberal, que entrou no STF contra a liberdade de expressão no show, pediu ontem o arquivamento do processo e a revogação da ordem judicial, por solicitação do próprio presidente Jair Bolsonaro. Em 2021, ao julgar uma ação direta de inconstitucionalidade, o Supremo Tribunal Federal proibiu os chamados “showmícios”, que são eventos políticos, comícios recheados de artistas que cantam e pedem votos para os candidatos patrocinadores. Neste mesmo julgamento, porém, o STF assinalou que “a vedação dos showmícios não configura censura prévia, pois não impede manifestações de cunho políticos de artistas, desde que sejam feitas em apresentações próprias”. Vemos, assim, que a liberdade de expressão está plenamente garantida. À mesa com a família; numa pizzaria; ônibus; corredores de empresa; eventos. Enfim, o cidadão tem todo o direito de expressar o seu pensamento, incluindo a predileção ideológica e política. Nunca se deve aplaudir uma afronta à liberdade de expressão, mesmo que adotada contra um adversário ideológico; o aplauso de hoje pode-se tornar o caos de amanhã e se voltar contra o próprio cidadão. Sérgio Carlos de Souza, fundador e sócio de Carlos de Souza Advogados, autor dos livros “101 Respostas Sobre Direito Ambiental” e “Guia Jurídico de Marketing Multinível”, especializado em Direito Empresarial, Recuperação de Empresas e Ambiental. Artigo publicado pelo Jornal Online Folha Vitória: https://www.folhavitoria.com.br/geral/blogs/direito-ao-direito/2022/03/29/violencia-contra-a-liberdade-de-expressao/
Muitos consumidores desconhecem ou consideram os serviços da assistência técnica especializada e da autorizada como sendo os mesmos, porém, há distinção entre eles, e é importante entender as diferenças para que não haja perda de garantia em seu produto. A assistência autorizada é aquela vinculada ao fabricante, a qual possui contato e treinamento direto com a fábrica, tendo a confiança e qualidade comprovada, sendo obrigada a empregar somente peças originais do fabricante para não comprometer a qualidade do produto no momento do reparo. De forma geral, quando o consumidor adquire determinado produto, o mesmo vem com termo de garantia e o manual do usuário, o qual possui as informações acerca dos endereços/telefones das assistências técnicas autorizadas. No caso da assistência especializada, estabelecimento comercial que presta manutenção ou serviço, não há obrigação de utilizar peças originais. Geralmente adaptam peças paralelas ou recondicionadas, ou seja, as oficinas especializadas contam com profissionais experientes em determinados consertos, mas não possuem vínculo com os fabricantes dos produtos adquiridos e, em alguns casos, nem informação técnica atualizada sobre o comportamento dos produtos no mercado, porém também em razão disso, possuem uma maior variedade de fornecedores, diminuindo o tempo de serviço, o que por muitas vezes é a opção mais vantajosa ao consumidor, por ser menos custosa e mais rápida. Assim, é importante que o consumidor tenha conhecimento das diferenças entre as assistências, para que saiba a quem recorrer. Em casos de produtos que ainda estão dentro do prazo de garantia pelo fornecedor, se os mesmos apresentarem vícios ou anormalidades que afetem sua funcionalidade, o consumidor deve encaminha-lo à assistência técnica autorizada, que, como já aqui mencionado, as informações sobre os endereços/telefones deverão estar discriminadas no “manual do produto”. Caso o reparo não seja efetivado dentro do prazo legal de 30 (trinta) dias corridos, o consumidor poderá optar: pela troca do produto, cancelamento da compra ou abatimento proporcional do preço, conforme dispõe o artigo 18, § 1º do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Estando o produto fora do prazo de garantia ou sendo da escolha do próprio consumidor levar seu produto a uma assistência especializada, o mesmo deve se atentar ao orçamento elaborado, averiguar se os profissionais possuem capacitação para resolver efetivamente o problema, buscar avaliações/opiniões de outros clientes acerca da qualidade dos serviços e dos profissionais a quem escolher recorrer, como forma de evitar qualquer outro problema futuro. Melissa Barbosa Valadão Almeida, associada de Carlos de Souza Advogados, especializada em Direito Civil e Comercial. Artigo publicado pelo Jornal Online Folha Vitória: https://www.folhavitoria.com.br/geral/blogs/direito-ao-direito/2022/03/28/diferenca-entre-assistencia-autorizada-e-especializada-2/