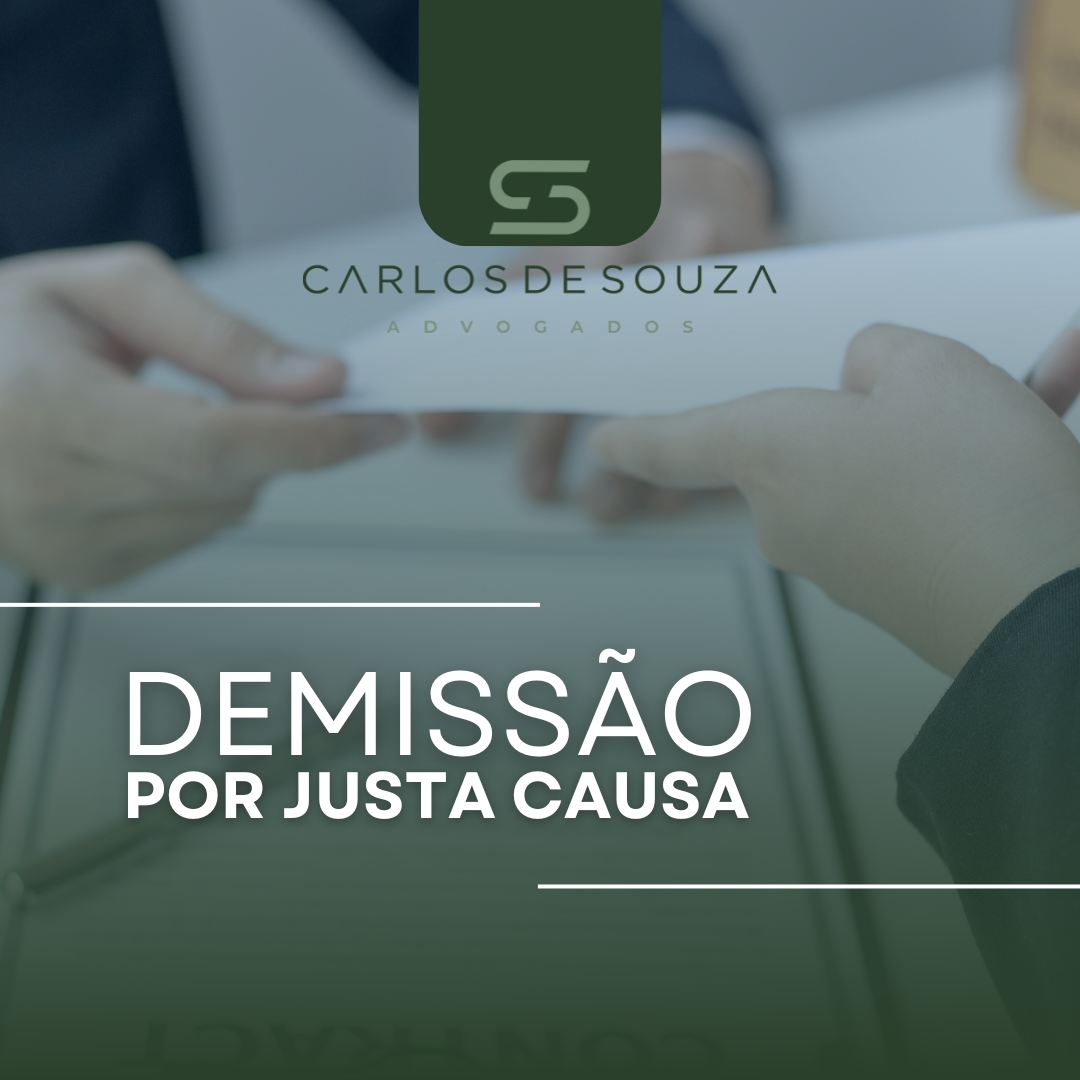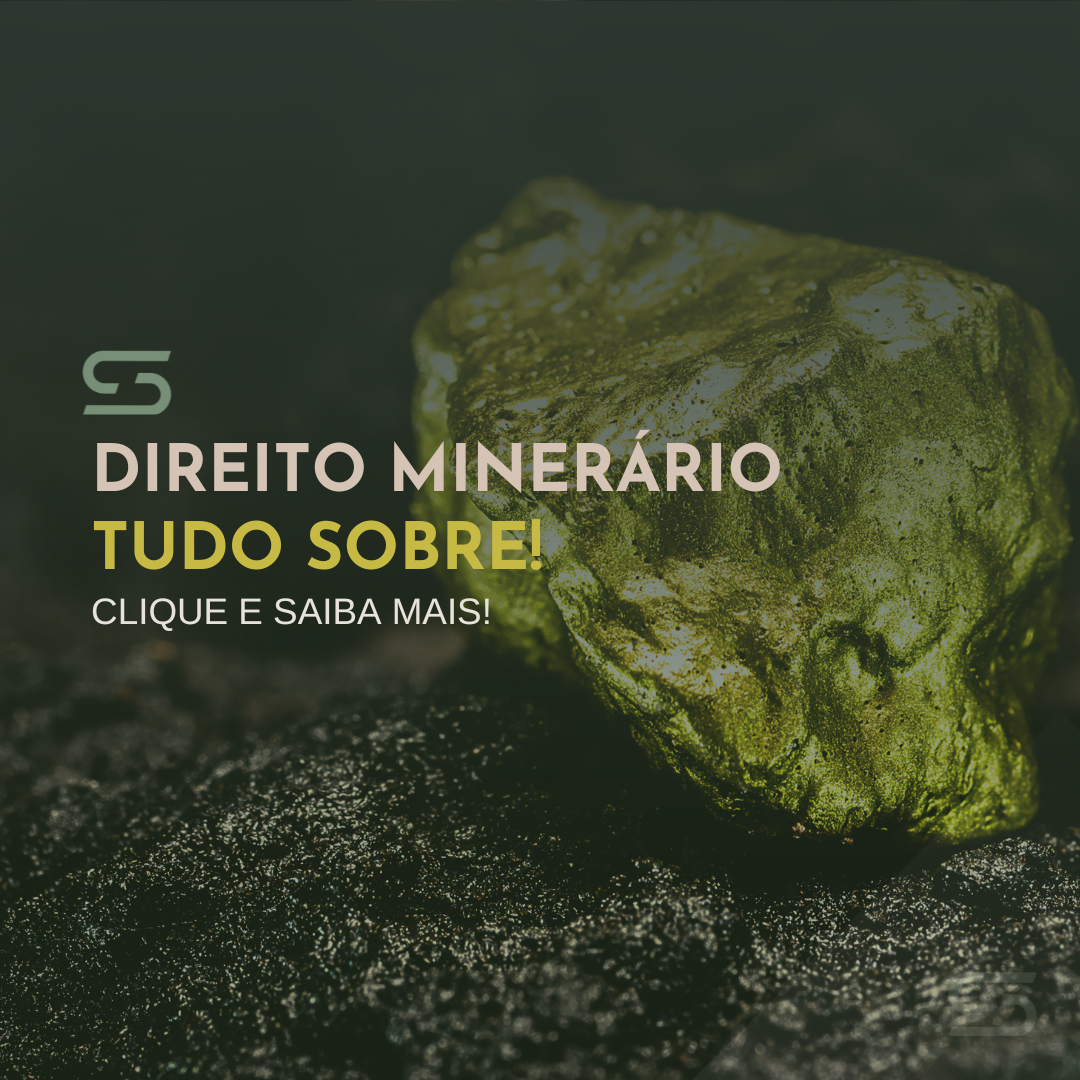Clique no link e confira o Boletim: http://r.mkt.carlosdesouza.com.br/3gbpjs8jgclpfe.html?t=1637339339
A Lei n. º 7.713/1988 (Lei do Imposto de Renda) e o Decreto n. º 9.580/2018 (Regulamento do Imposto de Renda) preveem isenção do Imposto de Renda (IR) da pessoa física relativo aos rendimentos de aposentadoria, reforma e pensão, inclusive as complementações, quando o aposentado ou pensionista for acometido de doença grave. Nesta hipótese, é necessário frisar que a isenção do Imposto de Renda é destinada exclusivamente para os rendimentos de aposentadoria e pensão; ou seja, rendimentos do trabalho assalariado e os rendimentos de alugueis, por exemplo, não são abrangidos por essa modalidade de isenção. Vale destacar que a origem dos proventos não se restringe à previdência pública. Valores de complementação de aposentadoria, reforma ou pensão recebidos por entidades de previdência complementar, fundos de aposentadoria, Programa Individual (Fapi) e programa gerador de benefício livre (PGBI), também são contemplados pela isenção. Da mesma forma, são isentos os rendimentos de pensão obtidos por acordo ou decisão judicial, por escritura pública e até alimentos provisionais recebidos por portadores de moléstia grave. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o rol de doenças previsto no artigo 6º, XIV da Lei 7.713/1988 e no Artigo 35 do Decreto do Imposto de Renda é taxativo, ou seja, somente as pessoas portadoras das doenças ali mencionadas expressamente poderão ser contempladas com o direito à isenção do IR. O câncer de próstata é uma das manifestações de neoplasia maligna e, portanto, faz parte do rol de doenças graves que recebem a aludida isenção. Tem-se, então, que a mencionada isenção é destinada a facilitar o custeio do tratamento dessa enfermidade, uma vez que nosso sistema de saúde público é limitado. Deve-se levar em consideração que o tratamento de uma doença grave, como é o caso do câncer, é bastante oneroso e, muitas vezes, envolve uma equipe multidisciplinar. Tais despesas podem contemplar gastos com a contratação de médicos especialistas, exames e medicações, além de possuir, por muitas vezes, a necessidade de contratação de serviços de outros profissionais da área da saúde, tais como psicólogos e enfermeiros. A previsão da isenção na lei possui a finalidade de diminuir o sacrifício financeiro suportado pelo aposentado e pensionista, uma vez que, nem sempre, tais despesas são cobertas pelo plano de saúde ou custeadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Para solicitar a isenção do Imposto de Renda, o contribuinte deverá procurar a sua fonte pagadora, que indicará o local em que o exame será realizado, munido de requerimento fornecido pela Receita Federal. Faz-se necessário reunir toda a documentação referente ao diagnóstico e confirmação da doença grave, pois o direito à isenção será concedido através de laudo pericial. É necessário que conste do laudo a data de início da doença, pois a Administração ou Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS) irá considerar a data de elaboração do laudo médico como o marco inicial da isenção do Imposto de Renda da pessoa física. Constando no laudo a data do início dos sintomas dessa doença, a isenção irá retroagir até a referida data. Por fim, importa ressaltar que o contribuinte portador da moléstia grave, ainda que aposentado ou pensionista, deverá continuar apresentando a sua declaração anual de ajuste, uma vez que a isenção não desobriga o contribuinte de apresentar tais declarações, ainda que este seja isento de pagar o imposto. Kezia Miez Souza, associada de Carlos de Souza Advogados, atua na área de Direito Tributário. Artigo publicado pelo Jornal Online Folha Vitória: https://www.folhavitoria.com.br/geral/blogs/direito-ao-direito/2021/11/19/isencao-do-imposto-de-renda-para-pessoas-com-cancer-de-prostata/
Infelizmente, ainda vivemos o horror de uma grande incidência de crimes sexuais, na quase totalidade das vezes praticados contra mulheres. Uma parcela dessas mulheres vitimadas é constituída por crianças e adolescentes. Vamos esclarecer didaticamente quais são esses crimes sexuais, como eles se caracterizam e as penalidades estabelecidas na lei. – O que é o assédio sexual? De acordo com a legislação brasileira, o assédio sexual é enquadrado como um crime contra a dignidade sexual, sendo definido no artigo 216-A do Código Penal como o ato de “constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função”. Assim, nos termos da lei, o assédio é considerado crime quando praticado por superior hierárquico ou equivalente, seja pelo simples constrangimento da vítima, ou pela prática reiterada de atos constrangedores. No entanto, há situações em que o assédio pode configurar outros crimes mais graves, como a importunação sexual e até o estupro. – Que atos configuram o assédio sexual? O assédio sexual pode ser configurado através de condutas abusivas desempenhadas por meio de palavras, comportamentos, atos, gestos ou escritos, que podem trazer danos à personalidade, à dignidade ou à integridade física ou psíquica de uma pessoa. Tentativas de beijos, toques indesejados, comentários, mensagens e gestos com conotação sexual, convites insistentes para carona ou para saírem juntos, quando envolvem diferença hierárquica e constrangimento da vítima, caracterizam assédio. A pena é de 1 (um) a 2 (dois) anos de detenção. – O que é a importunação sexual? O crime de importunação sexual, acrescentado ao Código Penal pela Lei n° 13.718/18, é caracterizado pela realização de ato libidinoso na presença de alguém de forma não consensual, com o objetivo de “satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro”, conforme dispõe o Art. 215-A do Código Penal. O caso mais comum é o assédio sofrido por mulheres em meios de transporte coletivo e festas, mas também enquadra ações como beijos forçados e passar a mão no corpo alheio sem permissão. O infrator pode ser punido com prisão de um a cinco anos. Podem ser considerados atos libidinosos, práticas e comportamentos que tenham finalidade de satisfazer desejo sexual, tais como: apalpar, lamber, tocar, roçar, desnudar, dentre outros. A pena é de 1 (um) a 5 (cinco) anos de reclusão. – Como pode-se provar o assédio sexual e a importunação sexual? Apesar de provas de crimes sexuais serem mais difíceis de ser colhidas, uma vez que na maioria das vezes são praticados às escondidas, sem testemunhas diretas, é importante saber que, para a jurisprudência brasileira, quando o relato da vítima é somado a algum elemento externo já deve ser entendido como comprovação suficiente para uma condenação. Nesse caso, não é preciso uma imagem ou que alguém que tenha visto o que aconteceu. As provas podem ser posteriores, por exemplo, com um laudo sobre o impacto emocional na vítima, ou então uma testemunha com quem ela tenha conversado imediatamente após o ocorrido. Além disso, usar o celular como meio de produção de provas é muito válido, por meio da gravação ambiental das tentativas do assediador, por exemplo, podendo ser feita por vídeo ou áudio. Não é necessário que o assediador tenha conhecimento da gravação, não se precisa de autorização para a gravação da voz ou rosto do assediador. – E o estupro? O estupro é o ato de “constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso”. Na prática, o agressor força a realização de um ato sexual contra a vontade da vítima usando, para isso, de violência ou de uma grave ameaça, como por exemplo uma arma ou um aviso de que pode matar alguém envolvido com ela. Pode ser considerado estupro mesmo que não haja penetração, como se costuma acreditar. Considerado um crime hediondo, tem a pena agravada quando se trata de menor de idade ou se há lesão ou morte da vítima. A pena pode variar de 6 a 10 anos de reclusão, aumentando para 8 a 12 anos se há lesão corporal ou se a vítima tem entre 14 a 18 anos. Ainda pode subir para 12 a 30 anos de reclusão quando há morte. Sérgio Carlos de Souza, fundador e sócio de Carlos de Souza Advogados, autor dos livros “101 Respostas Sobre Direito Ambiental” e “Guia Jurídico de Marketing Multinível”, especializado em Direito Empresarial, Recuperação de Empresas e Ambiental. Letícia Stein Carlos de Souza, Acadêmica do 4º. Período da Faculdade de Direito de Vitória e Estagiária de Direito. Artigo publicado pelo Jornal Online Folha Vitória: https://www.folhavitoria.com.br/geral/blogs/direito-ao-direito/2021/11/18/o-horror-dos-crimes-sexuais/
Em maio do presente ano, foi sancionada a Lei nº 14.155/21, conhecida com a Lei de Crimes Cibernéticos. O intuito principal de tal lei é alterar e tornar mais grave diversos crimes contidos no Código Penal Brasileiro, tais como: o crime de violação de dispositivo informático, furto e estelionato cometidos de forma eletrônica ou pela internet. Além dessas alterações, a nova lei também muda o Código de Processo Penal, definindo a competência em modalidades de estelionato. Historicamente, até o ano de 2012, o Brasil não possuía previsões específicas e concretas para crimes de violação ou invasão de sistemas ou dispositivos digitais, somente existindo algumas determinações vagas na Lei de Interceptações, ou hipóteses de alguns crimes cometidos por funcionários públicos contra a administração pública. Entretanto, em decorrência de fatos envolvendo o vazamento de fotos íntimas da atriz Carolina Dieckmann, o Brasil, através de seus legisladores, percebendo a lacuna existente sobre o assunto, criou a Lei nº 12.737/2012, conhecida como Lei Carolina Dieckmann, que criou os artigos 154-A e 154-B do Código Penal Brasileiro, não recebendo alterações até maio do ano de 2021. A recente criação agrava as punições previstas no Código Penal acerca de crimes cometidos através de dispositivos eletrônicos, ou seja, crimes cibernéticos. De acordo com o texto da lei, os crimes de violação de dispositivo informático, furto e estelionato cometidos de forma eletrônica ou pela internet, ficaram ainda mais graves. Com a nova legislação, a punição que anteriormente era detenção de três meses a um ano e multa passou a ser de um a quatro anos de reclusão e multa, desta forma, ganhando um status de maior reprovabilidade para os criminosos. A lei sancionada prevê que a pena de reclusão seja aplicada em condenações mais severas e o regime de cumprimento pode ser fechado. Já a detenção é aplicada para condenações mais leves e não admite que o início do cumprimento seja em regime fechado. A referida penalidade vale para aquele que invadir um dispositivo a fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem autorização do dono, ou ainda instalar vulnerabilidades para obter vantagem ilícita. Já se a invasão provocar obtenção de conteúdo de comunicações eletrônicas privadas, segredos comerciais ou industriais, informações sigilosas ou o controle remoto não autorizado do dispositivo invadido, a pena será de reclusão de dois a cinco anos e multa; tal pena, anteriormente, era de seis meses a dois anos e multa. Ademais, para casos em que haja prejuízo econômico, o texto sancionado prevê que a pena pode aumentar de um a dois terços. Já se a invasão do dispositivo levar ao acesso de conteúdo de comunicações eletrônicas privadas, segredos comerciais ou industriais, informações sigilosas ou ao controle remoto não autorizado do dispositivo invadido, a pena imposta pode variar de dois a cinco anos de reclusão. De forma individual, com relação ao furto qualificado, cumpre destacar que acontece quando as condições do crime envolvem, por exemplo, destruição de algum obstáculo, como uma fechadura, fraude ou concurso entre pessoas. A lei acrescenta ao Código Penal a agravante do furto qualificado por meio eletrônico, com ou sem a violação de mecanismo de segurança ou a utilização de programa malicioso, ou por qualquer outro meio fraudulento similar. Nesse caso, a pena será de reclusão de quatro a oito anos e multa, conforme a redação do Art. 155, parágrafo 4°- B, da referida lei. Vale salientar que, se o crime supracitado for praticado contra idoso ou vulnerável, a pena aumenta de um terço ao dobro. E, se for praticado com o uso de servidor de informática mantido fora do país, o aumento da pena pode ir de um terço a dois terços. Assim, nota-se que o Brasil demorou a tomar previdências para julgar e processar crimes da natureza cibernética, sendo necessária a ocorrência de fatos envolvendo a atriz Carolina Dieckmann para que os legisladores tomassem providências. Contudo, após a criação da lei nº 12.737/2012 e da lei 14.155/2021, se tem por verdade que cada vez mais as autoridades brasileiras estão se preocupando com assuntos envolvendo crimes cibernéticos, e por consequência, criando e atualizando leis já existentes. Samuel Lourenço Kao Yien, associado de Carlos de Souza Advogados, atua na área de Direito Criminal. Artigo publicado no Jornal Online Folha Vitória: https://www.folhavitoria.com.br/geral/blogs/direito-ao-direito/2021/11/17/a-nova-lei-de-crimes-ciberneticos/
Clique no link e confira o Boletim: http://r.mkt.carlosdesouza.com.br/3gblc2wjgclpfe.html?t=1636742060
Muitos acreditam que o auxílio-reclusão é um benefício oferecido ao preso em regime fechado, somente por estar preso. Entretanto, existem diversos requisitos para que haja a concessão do benefício que não é dado em favor do recluso, mas sim aos seus dependentes. O auxílio-reclusão foi instituído originalmente em agosto de 1960, através da Lei Orgânica da Previdência Social, Lei nº 3.807/60. Atualmente, o auxilio reclusão tem amparo na Lei nº 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social, em artigo 80 e seguintes. Cumpre destacar que tal auxílio é um direito previdenciário voltado exclusivamente aos dependentes do segurado que se encontra preso em regime fechado, e que não receba remuneração da empresa em que trabalhava, nem esteja gozando de auxílio-doença, aposentadoria ou abono de permanência de serviço, ou seja, voltado aos dependentes do segurado de baixa renda que foi preso. Ademais, destaca-se que se enquanto recluso, o preso vier a falecer, automaticamente o auxílio-reclusão é convertido em pensão por morte. O valor do auxílio-reclusão é de um salário-mínimo, e caso o recluso tenha mais de um dependente, divide-se em partes iguais, a depender de cada classe de dependentes, que pode ser dividida em 3 classes, tendo a primeira classe preferência sobre as demais, e a segunda classe preferência sobre a terceira: Classe 1 – cônjuge/companheiro e filhos. É uma classe na qual os dependentes têm uma relação familiar muito próxima com o segurado detido, assim, tem-se a dependência considerada presumida, não sendo necessário que comprove que era dependente do segurado. Classe 2 – pais. Em tal classe, é necessário comprovar que existe a dependência para que tenham direito ao auxílio. Classe 3 – irmãos. É dependente o irmão não emancipado, menor de 21 anos e o irmão que seja inválido ou com deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave, de qualquer idade, devendo comprovar que é dependente. Outro mito criado, é que o detendo precisa obrigatoriamente trabalhar durante sua reclusão para que seus dependentes tenham direito ao benefício. Contudo, mesmo na hipótese de não trabalhar enquanto encarcerado, seus dependentes não ficarão sem o auxílio. Em contrapartida, na hipótese de trabalhar enquanto detento, contribuirá como segurado do tipo facultativo, sem que seus dependentes fiquem sem receber o auxílio reclusão. Desta forma, conclui-se que o auxílio-reclusão é feito para que a família do preso não fique, de forma repentina, carente pelo fato da reclusão do segurado, principalmente se ele for o único provedor de renda. O pedido de auxílio-reclusão pode ser realizado totalmente pela internet, através do site https://www.gov.br/pt-br/servicos/receber-o-auxilio-reclusao Samuel Lourenço Kao Yien, associado de Carlos de Souza Advogados, atua na área de Direito Criminal. Artigo publicado pelo Jornal Online Folha Vitória: https://www.folhavitoria.com.br/geral/blogs/direito-ao-direito/2021/11/10/desmistificando-o-auxilio-reclusao/
Clique no link e confira o Boletim: http://r.mkt.carlosdesouza.com.br/3gbh4dkjgclpfe.html?t=1636121609
Em 20/10/2021 o STF decidiu sobre importante tema relacionado à Reforma Trabalhista ocorrida em novembro de 2017. A Lei nº 13.467/17 conhecida como Reforma Trabalhista promoveu, na época, mudanças sobre a concessão do benefício da justiça gratuita na Justiça do Trabalho. Em resumo, o cidadão ou até mesmo a pessoa jurídica, beneficiária da justiça gratuita, pode participar em processo judicial sem ter que pagar os custos de um processo, a saber, despesas como emolumentos, honorários de uma eventual perícia a ser realizada, honorários ao advogado da parte contrária, entre outros. No entanto, àquele que não se enquadrar nas condições necessárias ao recebimento da benesse, será obrigado a arcar com tais despesas. A reforma trabalhista, nesse contexto, estipulou exigências de pagamento de custas processuais, por exemplo, ao autor que não comparecer em audiência, ocasionando o arquivamento da ação trabalhista, como prevê o art. 844, § 2º da CLT. Novo ajuizamento de ação trabalhista, contudo, apenas será possível com o pagamento da dívida, conforme § 3º deste mesmo artigo. O STF entendeu que deve ser salvaguardado o direito fundamental de acesso à Justiça, previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição de 88, não podendo o beneficiado da justiça gratuita sofrer limitação para atuar em processo judicial. Ainda sobre o § 2º do art. 844 da CLT, a Corte Suprema entendeu que deve ser facultada a possibilidade do autor da ação comprovar o motivo pelo qual não pôde comparecer em audiência, o qual levou ao arquivamento do processo. Nesta mesma decisão, considerou-se inconstitucional a utilização dos créditos que a parte por ventura tenha em outros processos trabalhistas, para quitação dos custos da perícia a qual tenha perdido, conforme artigo 791-A, § 4º da CLT, salvo se comprovado que tal pagamento não prejudicará o sustento próprio e de sua família. Em outras situações previstas a partir da Reforma Trabalhista, percebe-se a interferência do STF. Os argumentos utilizados pelos Ministros que julgaram a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.766/DF, foram sempre no sentido de que a Lei Federal não pode obstaculizar o direito Constitucional de que o Estado deve garantir ao cidadão o direito à assistência judiciária integral, àqueles que, obviamente, comprovarem não ter condições financeiras de arcar com referidos custos, sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Por fim, oportuno lembrar que a exigibilidade das obrigações do beneficiário da justiça gratuita, decorrentes da perda do processo – o que se chama de sucumbência -, ficam sob condição suspensiva, o que significa dizer que somente serão cobradas se nos cinco anos posteriores ao trânsito em julgado da decisão, o credor provar que o devedor passou a ter condições financeiras de pagar a dívida existente no processo. Findo referido prazo, não há mais dívidas do beneficiário da justiça gratuita, conforme garante o artigo 98, §3º, do CPC. O julgamento do STF poderá estimular novas ações trabalhistas ao permitir àquele que não tem condições financeiras de arcar com eventuais custos do processo sinta-se de certo modo “mais protegido” em não correr riscos de perder um processo e ainda ter custos com ele ou até mesmo de ser impedido de ajuizar nova ação porque não recolheu custas do processo anterior movido. Rodrigo Silva Mello e Roberta Conti R. Caliman, sócios de Carlos de Souza Advogados, são especializados em Direito Trabalhista. Artigo publicado pelo Jornal Online Folha Vitória: https://www.folhavitoria.com.br/geral/blogs/direito-ao-direito/2021/11/02/reflexos-da-decisao-do-stf-sobre-a-concessao-da-justica-gratuita-na-justica-do-trabalho/
Está em julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF) a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5422, em que o Instituto Brasileiro de Direito de Família (IBDFAM) requer a declaração de inconstitucionalidade da incidência do imposto de renda (IR) sobre valores percebidos a título de alimentos ou de pensão alimentícia. O julgamento foi iniciado nesse mês e suspenso em razão do pedido de vista do Min. Alexandre de Moraes. Quanto à obrigação de pagar alimentos ou pensão alimentícia, deve-se esclarecer que é qualidade do devedor a possibilidade de pagar, pois recebe renda ou provento de qualquer natureza. O credor, por sua vez, é aquele de depende dos alimentos para, de modo geral e, segundo a regra do art. 1.694 do Código Civil, viver de modo compatível com sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação. Ou seja, os alimentos serão proporcionais à necessidade do credor para sua subsistência. Com isso, a renda ou proventos recebidos pelo devedor já são, em regra, tributados pelo IR no ato do recebimento ou depois da entrega da declaração de ajuste anual. É certo que o fato gerador do tributo já se materializou nesse momento. Por outro lado, a obrigação de prestar alimentos decorre da existência um vínculo familiar, seja a filiação, o parentesco ou o conjugal. Assim, o montante recebido pelo credor dos alimentos não configura renda, mas transferência de valor necessário à subsistência do credor por parte daquele que tem a obrigação de prover suas necessidades materiais. Expostas as razões que fazem surgir a obrigação de alimentar, em que se torna evidente o vínculo havido entre credor e devedor, bem como a relação direta entre o pagamento e a necessidade manifestada do alimentando, é correto afirmar que o valor pago não configura renda deste último e, por conseqüência, fato gerador do IR. No voto do relator da ADI, Min. Dias Toffoli, ficou destacado que “Alimentos ou pensão alimentícia oriunda do direito de família não são renda nem provento de qualquer natureza do credor dos alimentos, mas simplesmente montantes retirados dos rendimentos (acréscimos patrimoniais) recebidos pelo alimentante para serem dados ao alimentado. Nesse sentido, para o último, o recebimento de valores a título de alimentos ou de pensão alimentícia representa tão somente uma entrada de valores”. Destaque, também, para o voto do Min. Roberto Barros: “é incompatível com a Constituição considerar os alimentos como acréscimo patrimonial, uma vez que se destinam ao sustento e à subsistência do alimentando”. Por fim, ambos concluíram que a exigência do IR sobre o pagamento da pensão alimentícia configuraria verdade “bis in idem”, ou seja, a tributação de verba já tributada. Assim, caminha para a declaração de inconstitucionalidade a incidência do imposto de renda sobre o pagamento de pensão alimentícia, o que seria o posicionamento mais adequado à proteção dada pela Constituição Federal à valores como a dignidade humana e aos limites de tributar da União. Mariana Martins Barros é advogada tributária, sócia coordenadora da área tributária do Escritório Carlos de Souza Advogados e membro da Comissão de Direito Tributário da OAB/ES. Artigo publicado pelo Jornal Online Folha Vitória: https://www.folhavitoria.com.br/geral/blogs/direito-ao-direito/2021/11/01/pensao-alimenticia-e-o-imposto-de-renda/
O Pacote Anticrime (Lei nº 13.964), publicado em dezembro de 2019, passou a viger em janeiro de 2020, e implementou muitas modificações da legislação penal e processual penal. Dentre tantas atualizações, a Lei supracitada fez surgir o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), exposto no decorrer no presente artigo. Assim como a transação penal e a suspensão condicional do processo, ambas dispostas na Lei 9.099/95, o ANPP também é uma medida despenalizadora que está vigente no ordenamento jurídico brasileiro. A previsão inicial do assunto se deu no ano de 2017, através da Resolução 181/2017 publicada pelo Conselho Nacional do Ministério Público, vide artigo 18: “Não sendo o caso de arquivamento, o Ministério Público poderá propor ao investigado acordo de não-persecução penal, quando, cominada pena mínima inferior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, o investigado tiver confessado formal e circunstanciadamente a sua prática”. Em suma, o ANPP é considerado “um ajuste obrigacional entre o órgão de acusação e o investigado (assistido por advogado), devidamente homologado pelo juiz, no qual o indigitado assume sua responsabilidade, aceitando cumprir, desde logo, condições menos severas do que a sanção penal aplicável ao fato a ele imputado” (Cunha, Rogério Sanches. Pacote Anticrime — Lei n 13964/2019: Comentários às Alterações no CP, CPP e LEO/ Editora Juspodivm, 2020). Com relação aos pressupostos e condições necessárias para que ocorra o oferecimento do ANPP por parte do Ministério Público, podendo ser ajustada de forma cumulativa ou alternativa, dentre várias, de acordo com o art. 28-A da Lei nº 13.964/19, o agente deve reparar o dano ou restituir a coisa à vítima e/ou prestar serviços a comunidade ou entidades públicas. Ainda, não pode haver a possibilidade do cabimento da transação penal, nem ter sido o agente beneficiado nos cinco anos anteriores em outro ANPP, transação penal ou suspensão condicional do processo. Assim, tendo o agente aceito o benefício, deverá cumprir com todos os termos, visto que, havendo descumprimento, o Ministério Público deverá comunicar ao juízo para fins de revogação e posterior prosseguimento da Ação. Havendo a formalização do acordo entre as partes, configura-se coisa julgada, pois é considerado como o livre consentimento das partes que somente estão tornando pública sua vontade. Ou seja, havendo a estipulação e aceite dos termos, não se faz cabível nenhum recurso, salvo ficando demonstrado que o consentimento de uma das partes ocorreu de forma viciada. De qualquer sorte, o benefício despenalizador foi integrado ao sistema de justiça negociada de forma taxativa e efetiva, e já está em prática no ordenamento jurídico brasileiro, fazendo inevitável que os operadores do direito aprimorem o conhecimento sobre o tema. Samuel Lourenço Kao Yien, associado de Carlos de Souza Advogados, atua na área de Direito Criminal. Artigo publicado pelo Jornal Online Folha Vitória: https://www.folhavitoria.com.br/geral/blogs/direito-ao-direito/2021/10/27/o-acordo-de-nao-persecucao-penal-como-uma-medida-despenalizadora/