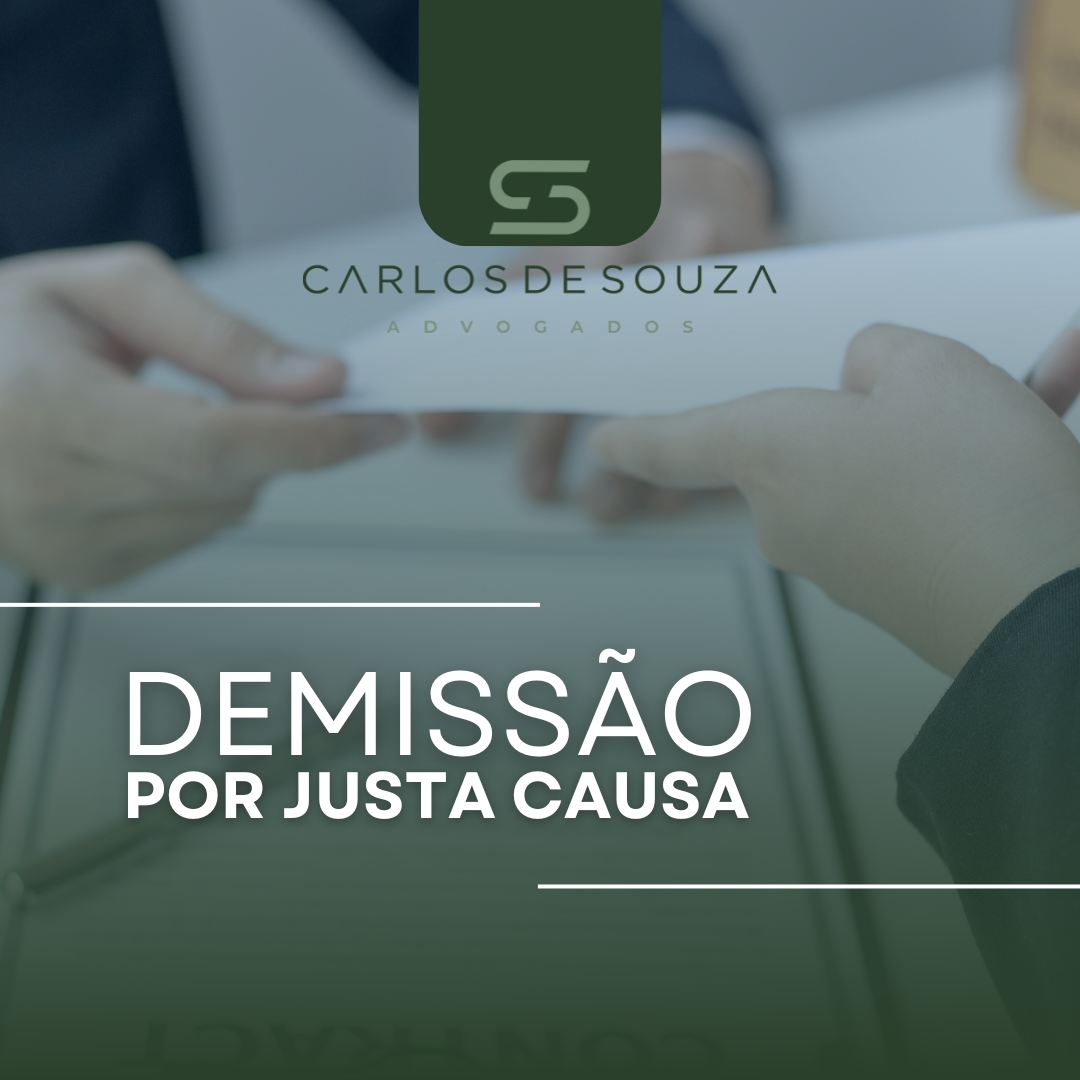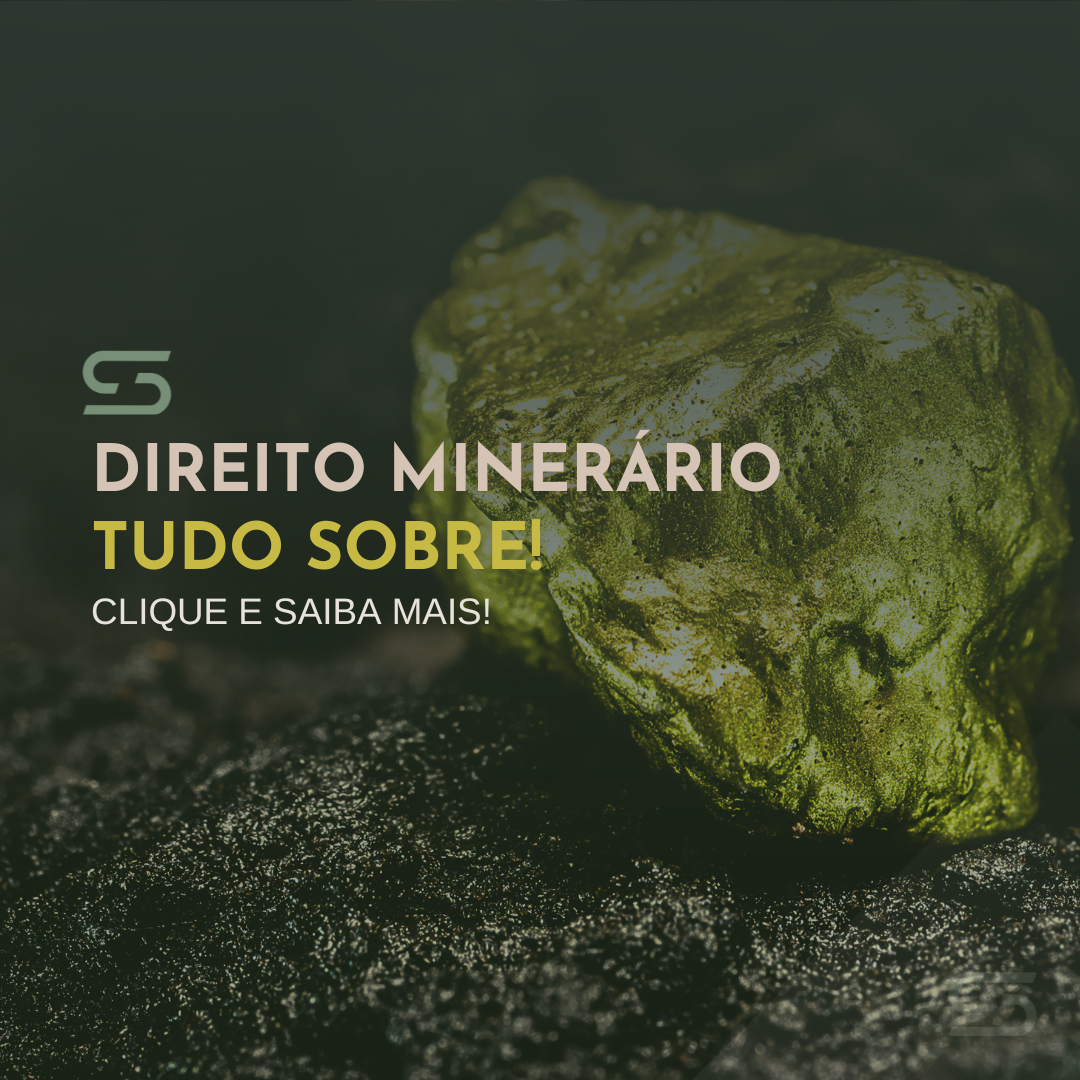https://www.folhavitoria.com.br/geral/blogs/direito-ao-direito/2020/11/26/lavagem-de-dinheiro-x-demissao-de-empregado-estavel/ Artigo do advogado Rodrigo Carlos de Souza.
O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu ontem, por maioria de votos, que o disposto no Art. 17-D da Lei 9.613/98 (Lei de Lavagem de Dinheiro), é inconstitucional. O referido dispositivo legal prevê que, “Em caso de indiciamento de servidor público, este será afastado, sem prejuízo de remuneração e demais direitos previstos em lei, até que o juiz competente autorize, em decisão fundamentada, o seu retorno”. Tal decisão foi provocada pela Ação Direto de Inconstitucionalidade (ADI) 4911, ajuizada pela Associação Nacional dos Procuradores da República (ANPR), cujo relator foi o Ministro Alexandre de Moraes, que aliás, teve a prevalência de seu voto. A ANPR defendeu a tese de que o mero indiciamento do servidor público não pode resultar no seu afastamento de plano de sua função, pois afronta princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, presunção de inocência e inafastabilidade de jurisdição, assim como põe em cheque a titularidade do Ministério Público (MP) da ação penal pública e, completando asseverou também que o Art. 17-D da Lei 9.613/98 suprime do Poder Judiciário a competência para concessão de medida cautelar de afastamento do servidor público. É importante trazer à discussão uma situação similar e até mais complexa do que a prevista no Art. 17-D da Lei 9.613/98, que são as disposições contidas nos Artigos 494 e 495 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), que assim rezam: Art. 494 – O empregado acusado de falta grave poderá ser suspenso de suas funções, mas a sua despedida só se tornará efetiva após o inquérito e que se verifique a procedência da acusação. Parágrafo único – A suspensão, no caso deste artigo, perdurará até a decisão final do processo. Art. 495 – Reconhecida a inexistência de falta grave praticada pelo empregado, fica o empregador obrigado a readmiti-lo no serviço e a pagar-lhe os salários a que teria direito no período da suspensão. Observa-se que a regra análoga, prevista no texto celetista, contém um rigor até maior do que o do Art. 17-D da Lei 9.613/98, já que além da suspensão de sua função laboral, o trabalhador tem a sua remuneração suspensa até o término do Inquérito Judicial e, no entanto, continua vigorando. A suspensão do empregado celetista e a submissão deste a Inquérito Judicial para apuração de falta grave (elencadas no Art. 482 da CLT), ocorre somente quando a empregadora se vê impedida de demitir o empregado supostamente infrator, em decorrência deste ser portador de estabilidade. Em nossa trajetória atuando tanto na área de improbidade administrativa quanto no direito empresarial, percebemos que é absolutamente incomum um empregador pretender demitir um empregado estável por mera perseguição. O que vemos, via de regra, são empregados que realmente cometeram falta grave e ficam suscetíveis a uma demissão por justa causa. Isto ocorrendo, caberá a nós, operadores do direito, exercermos o nosso dever de informar ao empregador/cliente a aplicabilidade da demissão por justa causa diante de cada caso concreto. Em certas situações, a justa causa não poderá ser aplicada, caso não se faça presente pelo menos algum dos requisitos previstos o artigo 482 da CLT, isto é, precisará haver prova robusta da infração, porque a Justiça do Trabalho é implacável na instrução processual e, no caso da fragilidade de prova, o Inquérito Judicial será julgado improcedente e o emprego do trabalhador mantido, devendo ainda, por consequência, o empregador ser condenado a indenizar o trabalhador por danos morais, caso este ingresse com este pedido, o que pode ocorrer no momento do oferecimento de sua defesa no Inquérito Judicial, através de um medida denominada reconvenção, sem prejuízo do direito aos salários e consectários legais não recebidos durante o período da suspensão. Portanto, entendemos pela manutenção da regra prevista no texto da CLT, acerca da matéria em voga.
https://atenasnoticias.com.br/existe-justificativa-para-tanta-demora-no-caso-gabriela-chermont/ Artigo do advogado Rodrigo Carlos de Souza.
https://www.folhavitoria.com.br/geral/blogs/direito-ao-direito/2020/11/12/existe-justificativa-para-tanta-demora-no-caso-gabriela-chermont/ Artigo do advogado Rodrigo Carlos de Souza.
Salta aos olhos o tempo decorrido desde a morte de Gabriela Chermont, ocorrida em setembro de 1996, sem que, até o momento, o acusado tenha sido julgado. Nada justifica tanto tempo sem que as autoridades tenham dado uma resposta à sociedade e, especialmente, à família vitimada. Por que há casos que demoram tanto tempo para serem julgados? Não existe uma resposta precisa, mas também não dá para simplesmente generalizar e dizer que “a culpa é das leis que acabam permitindo muitos recursos”. O Brasil tem um princípio constitucional valiosíssimo trazido pelo inciso LV do artigo 5º: aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Esse princípio é fundamental e jamais deve ser desprezado. Qualquer acusado tem a seu favor a presunção de inocência e deve ter o direito de usar todos os meios legais em sua defesa. Entretanto, isto não pode ser carta branca para um processo que jamais termina. É preciso haver firmeza dos juízes ao não aceitarem que o direito à ampla defesa supere os limites da razoabilidade. Todo juiz sabe (ou deveria saber!) quando uma das partes está protelando o processo criminal querendo valer-se da possibilidade de prescrição, e isto deve ser firmemente repelido. No caso específico de Gabriela Chermont, não se trata, aqui nestas minhas linhas, de dizer se o acusado é ou não culpado. Não tenho como fazer isto! Agora, é desumano e indigno que não tenha ocorrido um julgamento! Uma grande preocupação da sociedade e da família é a prescrição do crime. A prescrição é a perda do direito, em face do decurso do tempo, do estado-acusador punir um criminoso. Na prática, a pessoa acusada fica livre de qualquer acusação. No caso da Gabriela, o tempo de prescrição é de 20 anos, que é o máximo. Porém, existem causas que interrompem a contagem da prescrição, como por exemplo a deliberação para que este caso fosse levado a júri popular, o que se chama de sentença de pronúncia. Portanto, a prescrição de 20 anos ainda pode estar longe de ocorrer, a depender de quando foi decidido que o acusado seria julgado por júri popular. É inexplicável que o júri já tenha sido adiado 9 vezes. Nada permite entender algo dessa forma. Sem conhecer o processo não dá para dizer os motivos que ensejaram os constantes adiamentos, exceto o último, do início deste ano, que foi a pandemia, como noticiado pela imprensa. Quanto aos outros adiamentos, infelizmente é muito comum que diversos atos forcem o cancelamento de audiência, como a falta de intimação de testemunhas e do cumprimento de outras formalidades. Na essência, o que se vê é que a estrutura deficitária do Judiciário tem grande parcela de culpa ao não cumprir os ritos a seu tempo. O júri popular tem as características de uma audiência criminal como qualquer outra, com a oitiva de testemunhas e a exposição de argumentos por parte da acusação e defesa. O juiz preside a audiência e é quem tem a função de fazer com que tudo corra na forma da lei. A grande diferença é que, no momento de se tomar a decisão de absolver ou condenar o acusado, a deliberação é dos 7 jurados, que se reúnem, discutem e votam de acordo com o que tiverem se convencido. Como no Brasil vale a prisão somente depois de esgotados todos os recursos, a não ser que o acusado esteja preso preventivamente (o que não ocorre no caso de Gabriela Chermont), mesmo que o acusado seja condenado, ele sairá livre da sessão e poderá aguardar, em liberdade, a conclusão dos recursos, o que ainda poderá demandar muitos anos. Isto é: somente quando esgotados todos os recursos é que, se condenado, o acusado será preso, caso não ocorra a prescrição antes disto.
https://www.simnoticias.com.br/isonomia-de-direitos-entre-generos/ Artigo do advogado Rodrigo Carlos de Souza.
https://www.seculodiario.com.br/colunas/isonomia-de-direitos-entre-generos Artigo do advogado Rodrigo Carlos de Souza.
https://www.simnoticias.com.br/como-identificar-oportunidades-e-riscos-de-uma-empresa/ Artigo do advogado Rodrigo Carlos de Souza.
A Constituição Federal prevê, com status de direito fundamental, no inciso I do Art. 5º., que “homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações”, de onde se extrai o princípio constitucional da isonomia entre os gêneros. Neste diapasão, recentemente o STF julgou o Recurso Extraordinário (RE) 659424, onde apreciou o tema 457 da repercussão geral e negou provimento ao apelo do Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul (IPERGS), que pretendia ver declarada a constitucionalidade de exigência de requisitos diferenciados em razão do gênero do beneficiário. Para tanto, o IPERGS invocou Lei Estadual nº. 7.672/82, ainda em vigor nas datas de ajuizamento da ação e interposição do RE, a qual previa, no inciso I do seu Art. 9º., que para efeito daquela lei, seriam dependentes do segurado, “a esposa; a ex-esposa divorciada; o marido inválido, os filhos de qualquer condição enquanto solteiros e menores de dezoito anos, ou inválidos, se do sexo masculino, e enquanto solteiros e menores de vinte e um anos, ou inválidos, se do sexo feminino” (negritos e grifos nossos). Embora o STF tenha sido instado apenas no tocante ao direito de pensão de marido não inválido e acertadamente declarado a inconstitucionalidade de requisitos distintos para gêneros masculino e feminino receberem o benefício, por ter restado entendido que a aplicação do texto legal transgrediria o princípio da isonomia entre homens e mulheres, vale refletir também sobre uma segunda inconstitucionalidade no mesmo texto, que reside na então previsão de direitos para filhos homens “enquanto solteiros e menores de dezoito anos”, ao passo logo adiante, no mesmo dispositivo, contemplava-se a filha solteira (sexo feminino) até vinte e um anos de idade, já que neste caso, de igual forma está ausente a isonomia entre os gêneros. Em 2018, antes mesmo do julgamento do RE 659424 pelo STF, o legislador gaúcho aprovou e o executivo sancionou e promulgou a Lei Complementar nº. 15.142/18, que finalmente contemplou os gêneros masculino e feminino com os mesmos direitos, em seus Artigo 4º. e 11. O Estado do Rio Grande do Sul, bem como o STF, foram implacáveis no enfretamento da matéria acima mencionada, dando tratamento isonômico a homens e mulheres. Em atenção ao princípio da isonomia entre os gêneros, o Legislativo e o Executivo federal inseriram na Lei nº. 9.504/97, alterada pela Lei nº 12.034/09, a regra prevista no § 3º do seu Art. 10, que dispõe sobre a denominada “cota de gênero”, que se traduz na obrigatoriedade de que a quantidade de vagas de cada Partido ou Coligação, seja preenchida com no mínimo 30% e o máximo de 70% por cada sexo, masculino e feminino, nas candidaturas. A lei das eleições buscou, com isto, dar mais espaço no meio político para as mulheres, notadamente minoria nesse ambiente, o que, a princípio, é válido, pelo menos até que a sociedade brasileira alcance maturidade suficiente para que, naturalmente, ambos os gêneros tenham participações e protagonismo similares. Portanto, respeitosamente, entendemos que a atual regra deve ser tida como uma regra de transição, já que a persistir a norma atual, não haverá, jamais, paridade entre homens e mulheres, na política brasileira, já que a previsão atual é que sempre haja 30% de um gênero contra 70% do outro. Os Ministros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), nos autos da Consulta nº. 0603816-39.2017.6.00.0000, entenderam, por unanimidade, que a proporção 30% x 70% deve ser aplicada também no âmbito das eleições intrapartidárias, ou seja, evoluiu para matéria interna corporis dos Partidos Políticos. Na mesma toada o TSE aprovou um apelo ao Congresso Nacional, para que a reserva de 30% x 70% nas candidaturas intrapartidárias seja incluída em lei, inclusive com previsão de sanção em caso de descumprimento. Concluindo, as autoridades brasileiras precisam saber discernir o momento correto de abandonar a imposição legal, para deixar fluir o equilíbrio natural, até porque o regramento que atualmente vigora, como já dito alhures, não oferece paridade entre os gêneros.
https://atenasnoticias.com.br/como-identificar-oportunidades-e-riscos-de-uma-empresa/ Artigo do advogado Rodrigo Carlos de Souza.