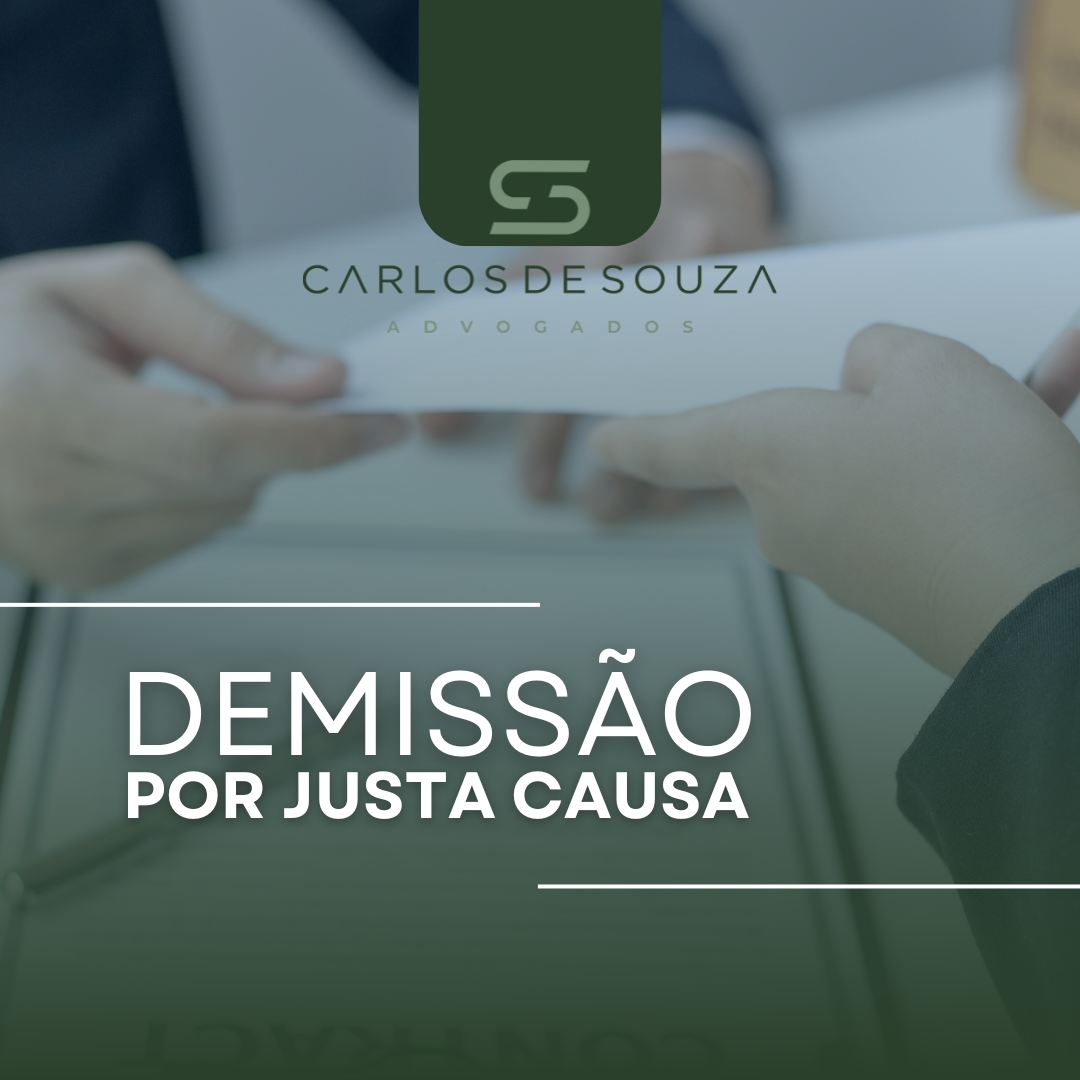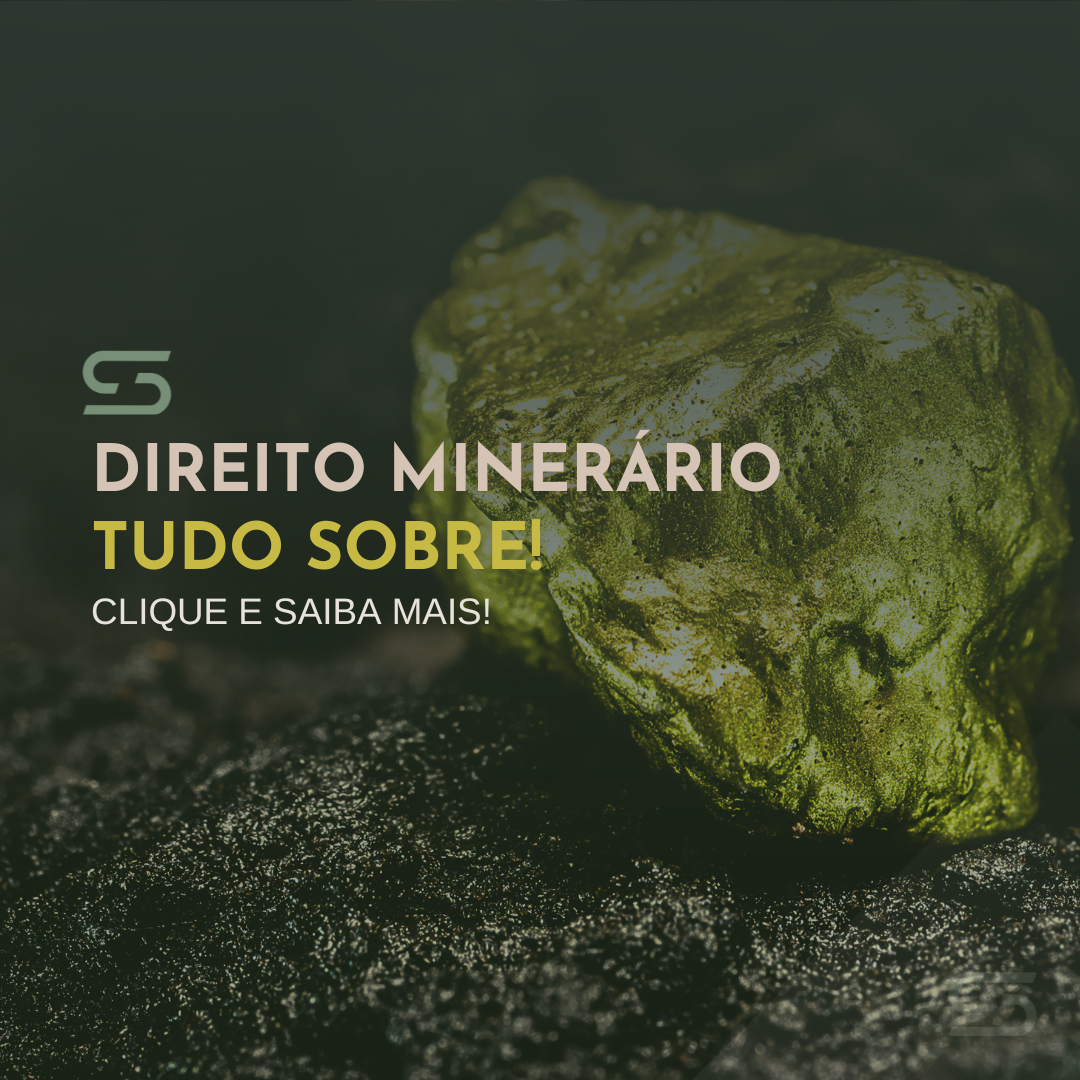No dia 1º deste mês de outubro, o Ministro Gilmar Mendes, do STF, deferiu uma liminar requerida pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB), nos autos de uma Ação Direta de Inconstitucionalidade, contra os incisos II e III do artigo 12 da Lei nº 8.429/1992 (Lei de Improbidade). O PSB requereu em sede de medida cautelar, a suspensão dos efeitos do art. 12, II (na modalidade culposa) e III quanto à supressão temporária dos direitos políticos, a fim de, sob a ótica do Ministro Gilmar Mendes, que deferiu a liminar, e do partido político requerente, evitar-se a perpetuação de injustiças decorrentes da aplicação desproporcional e desarrazoada da sanção a atos de improbidade de reduzido potencial lesivo. E, em definitivo, foi requerido que seja declarada (i) a inconstitucionalidade com interpretação conforme do art. 12, II, da Lei n. 8.429/92, para que a sanção de suspensão dos direitos políticos somente possa incidir na modalidade dolosa do art. 10; e (ii) a inconstitucionalidade com redução de texto do art. 12, III, da Lei n. 8.429/92, a fim excluir a expressão “suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos”, vedando-se a aplicação da referida penalidade aos casos do art. 11. O caput do referido art. 12 prevê que: “Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato” (negritos e grifos dos autores). O inciso II do dispositivo legal sob comento assim dispõe: “na hipótese do art. 10 (Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta lei…), ressarcimento integral do dano, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se concorrer esta circunstância, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de cinco a oito anos, pagamento de multa civil de até duas vezes o valor do dano e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos” (negritos e grifos dos autores). O inciso III do mesmo dispositivo legal prevê que, “na hipótese do art. 11(Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições…), ressarcimento integral do dano, se houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos, pagamento de multa civil de até cem vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos” (negritos e grifos dos autores). Pois bem, demonstradas as previsões contidas nos dispositivos impugnados, da Lei de Improbidade, já dá para esclarecer para os leitores que o PSB alegou, na petição inicial, que os referidos dispositivos, ao permitirem a aplicação da penalidade de suspensão dos direitos políticos a todo ato de improbidade administrativa, independentemente da gravidade ou do elemento subjetivo da conduta, contrariam a proporcionalidade e a gradação expressamente exigidos pelos artigos 15 (art. 15. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de: (…) V – improbidade administrativa, nos termos do art. 37, § 4º) e 37, § 4º (art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: … § 4º. Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.), da Constituição Federal (negritos e grifos dos autores). E, neste diapasão, o Ministro Gilmar Mendes entendeu que há, nas normas impugnadas nessa ação direta de inconstitucionalidade, excesso do legislador e, portanto, violação ao princípio da proporcionalidade. Tanto a Procuradoria-Geral da República quanto a Advocacia-Geral da União se manifestaram nos autos e expressaram discordância com o acolhimento do pedido. A Procuradoria-Geral da República defendeu que a penalidade de suspensão dos direitos políticos, prevista nos incisos II e III do art. 12 da Lei 8.429/1992, respeita a Constituição, uma vez que não dispensa o juiz de demonstrar a proporcionalidade entre a aplicação da reprimenda e as circunstâncias do caso concreto. Ou seja, deu um Parecer pela improcedência dos pedidos do partido requerente. A Advocacia-Geral da União sustentou que: (i) a punição de condutas que caracterizem improbidade administrativa se alinha à proteção do Estado Democrático de Direito; (ii) a legislação impugnada não ofende os parâmetros constitucionais ao permitir, pelos prazos estabelecidos, a suspensão de direitos políticos em caso de condenação por ato de improbidade administrativa; (iii) a incidência dessa modalidade de pena e a respectiva dosagem pelo magistrado, no caso concreto, alinha-se aos parâmetros de proporcionalidade e adequação; a IMPROCEDÊNCIA do pedido representa a preservação da independência judicial. Com todas as venias, também discordo do entendimento do Ministro Gilmar Mendes, visto que a gradação reclamada está patente nos dispositivos impugnados. Observa-se que o caput do art. 12 estabelece que as sanções ali previstas “podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato”, ou seja, há gradação, visto que as penalidades podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente e mais, de acordo com a gravidade do fato. Ora, quando uma penalidade pode ser aplicada de acordo com a gravidade do fato, é porque existe uma gradação. Há de ser observado também que, nos incisos II e III há previsão de suspensão de direitos políticos de cinco a oito anos e de três a cinco anos, respectivamente, o que, de igual forma, representa uma gradação para que o julgador aplique a penalidade ao agente ímprobo. Respeitosamente, concluímos salientando a decisão do Supremo […]
A investigação defensiva é um mecanismo que pode ser utilizado pelo advogado com vistas a buscar provas que venham a inocentar o seu cliente, ou atenuar a pena deste. Essa prática há muito é utilizada em outros países, destacando-se os Estados Unidos e a Itália, e consiste na paridade de condições na busca de elementos de provas, entre acusação e defesa. Nos referidos países, a investigação criminal não é somente um direito do advogado, mas sim um dever. O causídico tem o dever de investigar o caso que lhe é confiado e buscar provas, inclusive periciais, que venham a beneficiar a defesa do seu cliente. Enquanto aqui no Brasil o acesso do advogado a testemunhas, muitas vezes é interpretado pelas autoridades judiciárias como um meio de coação, no país mais adiantado do mundo, no caso a potência norte-americana, tal procedimento é normal, corriqueiro, em prol da busca da verdade real. Devido ao risco de má interpretação da investigação criminal, esta é ainda pouquíssimo utilizada no Brasil, o que resulta numa enorme disparidade de ferramentas entre acusação e defesa. A Lei 8.906/94 (Estatuto da Advocacia), no Art. 2º determina que o advogado é indispensável à administração da justiça, no Art. 6º determina que não há hierarquia nem subordinação entre advogados, magistrados e membros do Ministério Público, e no Art. 7º determina que é direito do advogado exercer a profissão com liberdade. Muitos são os misteres dos advogados e, da mesma forma, muitos são os regramentos que norteiam o exercício da advocacia, conferindo ao profissional obrigações, direitos e prerrogativas. Entretanto, para não elastecermos tanto este escrito, faremos uma breve reflexão apenas em cima dos Artigos 2º, 6º e 7º da Lei 8.906/94. Ora, se o advogado é indispensável à administração da justiça (não estamos falando da Justiça, do Poder Judiciário), se não há hierarquia entre o trinômio advogados, magistrados e membros do Ministério Público, e, ainda, é assegurado o exercício da advocacia com liberdade, não é minimamente razoável que o advogado deva prescindir do seu direito-dever de realizar a investigação defensiva. É, portanto, corolário lógico que a má interpretação do mecanismo da investigação defensiva por parte de algumas autoridades, não pode intimidar o pleno exercício da advocacia e, pior, violar os princípios constitucionais do devido processo legal e do contraditório e ampla defesa, insculpidos no Art. 5º, incisos LIV e LV da Carta Magna. A instituição Ordem dos Advogados do Brasil, historicamente tem lutado para mudar o quadro, e regulamentou a investigação defensiva por meio do Provimento 188/2018, definindo-a como “o complexo de atividades de natureza investigatória desenvolvido pelo advogado, com ou sem assistência de consultor técnico ou outros profissionais legalmente habilitados, em qualquer fase da persecução penal, procedimento ou grau de jurisdição, visando à obtenção de elementos de prova destinados à constituição de acervo probatório lícito, para a tutela de direitos de seu constituinte”, em qualquer etapa, desde a investigação preliminar, passando pela instrução processual, até a fase recursal, não importando o grau de jurisdição e, inclusive no curso da execução penal, prestando-se, também, como medida preparatória para pedido de revisão criminal. Dentro desse contexto, em 27/04/2021 o Tribunal Regional Federal da 3ª Região decidiu que acusação e defesa devem ter as mesmas possibilidades de produzir provas visando o convencimento do julgador (Processo 5001789-10.2020.4.03.6181). E, nessa esteira, o advogado pode fazer diligências, colher depoimentos, providenciar laudos periciais, reconstituições, dentre outros meios de provas. Sem sobra de dúvidas, foi um grande avanço em favor do exercício da advocacia, mas é preciso que o entendimento adotado pelo TRT3 seja sedimentado pela jurisprudência. Rodrigo Carlos de Souza, sócio e fundador de Carlos de Souza Advogados, Secretário Geral Adjunto e Corregedor Geral da OAB/ES, Vice-Presidente da Comissão Nacional de Compliance Eleitoral e Partidário da OAB e Diretor do CESA – Centro de Estudos das Sociedades de Advogados (Seccional Espírito Santo). Letícia Stein Carlos de Souza, Acadêmica do 3º. Período da Faculdade de Direito de Vitória e Estagiária de Direito.
A curatela é um mecanismo de proteção para aqueles maiores de idade, que não possuem capacidade de reger os atos da própria vida. Segundo Nelson Rosenvald, grande jurista brasileiro, ela é o “encargo imposto a uma pessoa natural para cuidar e proteger uma pessoa maior de idade que não pode se auto determinar patrimonialmente por conta de uma incapacidade”. Quando uma pessoa, maior de 18 anos, possui alguma deficiência ou condição que a impeça de exprimir sua vontade, seja de forma permanente ou transitória, outra pessoa deve ser nomeada para administrar seu patrimônio, direitos e interesses. Essa primeira pessoa é o “curatelado”, e a pessoa que representa o curatelado, administrando seu patrimônio, direitos e interesses, chama-se “curador”. O curador é quem representará o curatelado em todos os negócios jurídicos que ele precisar praticar, como venda ou compra de um imóvel, compra de um veículo, entre outras situações. Para conseguir a curatela, é necessário o ajuizamento de uma ação judicial. Casos muito comuns de curatela são os de pessoas com Alzheimer em estágio avançado, por exemplo, e que já não possuem discernimento suficiente para a prática de atos da vida civil (negociar, vender, comprar, administrar valores altos, dentre outros). Outras hipóteses, bastante frequentes, são a de déficit intelectual grave ou de outros transtornos mentais que impossibilitem a capacidade civil plena da pessoa. Faz-se importante salientar, no entanto, que o fato da pessoa possuir uma deficiência, por si só, não significa que ela necessariamente seja incapaz, sendo necessária a comprovação da ausência de condições de manifestação de vontade, de forma permanente ou transitória. Isso significa que a curatela é exceção e não uma regra para pessoas com deficiência. Isso está previsto no Artigo 6º do Estatuto da Pessoa com Deficiência, o qual prevê expressamente que a deficiência, seja intelectual ou física, não é sinônimo de incapacidade. A pessoa só será declarada incapaz caso seja verificado, através um laudo médico, que ela não consegue exprimir sua vontade. Genericamente, a curatela está situada no Livro de Direito de Família com regras específicas contidas entre o Art. 1.767 e 1.783 do Código Civil, sendo aplicadas de forma subsidiária as regras gerais do instituto da Tutela (art. 1.728 a art. 1.766 do Código Civil), em decorrência da previsão contida no Art. 1.774 do mesmo diploma legal. Mas é importante que se faça uma leitura atenta desses dispositivos sempre à luz da Lei nº 13.146/2015 (LBI), a qual alterou profundamente as repercussões jurídicas acerca das capacidades das pessoas com deficiência, sobretudo no caso da deficiência mental e intelectual. O Art. 1767 do Código Civil, atualizado pela Lei nº 13.146 de 2015, a qual institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), prevê quatro seguintes hipóteses de interdição. A primeira delas refere-se àqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade. Nesse momento, o artigo tem o objetivo de retirar o estigma de que pessoas portadoras de determinadas síndromes, tal como a Síndrome de Down, sejam automaticamente inseridas no rol de incapazes. Portanto, cada situação será analisada considerando suas particularidades. A curatela poderá ser definida, considerando as condições ou estados psicológicos, que podem reduzir a capacidade de discernimento acerca da vida e do cotidiano de cada indivíduo. Ainda, por causa transitória, por exemplo, podem ser considerados aqueles que se encontram internados em UTI, mesmo que temporariamente, mas que não possuem condições de manifestar a vontade na situação em que se encontram. Isto que muito tem acontecido nos dias de hoje, com o enfrentamento da pandemia da Covid-19 no Brasil. A causa da incapacidade, nesses casos, dependerá de comprovação médica. A segunda hipótese trata-se dos ébrios habituais e toxicômanos, ou seja, diz respeito àqueles que estão na dependência física e psíquica de bebida alcoólica ou outra substância química, que não consigam controlar o impulso de ingeri-las, de modo a manterem-se na maior parte do tempo sob seus efeitos. Dependendo do contexto da dependência do sujeito que ingere, ou aplica, ou aspira substâncias tóxicas de maneira contumaz, pode-se chegar a um estado mental patológico. Consequentemente, dados os elementos químicos e tóxicos que compõem as drogas, a mente é seriamente afetada, não apenas pela redução do entendimento, mas acima de tudo devido o dependente não mais se autocontrolar ou governar-se. A terceira hipótese aborda a questão dos pródigos, os quais dilapidam seu patrimônio de modo a prejudicar seu próprio sustento. É um desvio comportamental e se exige a presença de uma psicologia para sua averiguação, não bastando o mero volume de gastos para sua verificação. Nesse caso, pode ser que a interdição seja parcial, ou seja, somente para realizar negócios que envolvam o patrimônio da pessoa. Ressalta-se que este rol é taxativo, o que significa que somente poderá ser concedida a curatela se a situação se amoldar a uma das hipóteses previstas em lei, não sendo possível requisitá-la em qualquer outra circunstância. Finalizando, a quarta hipótese aborda sobre a curatela do nascituro. O Código Civil Brasileiro, em seu Art. 1.779, também apresenta a possibilidade da curatela do nascituro como mecanismo de proteção jurídica para algumas situações especiais. Vejamos: “Art. 1.779. Dar-se-á curador ao nascituro, se o pai falecer estando grávida a mulher, e não tendo o poder familiar.Parágrafo único. Se a mulher estiver interdita, seu curador será o do nascituro.” Nessa situação, vem à tona a hipótese de uma grávida menor de idade ou enquadrada em qualquer uma das hipóteses de incapacidade que impõe curatela. Diante da morte do pai, tecnicamente não haveria poder familiar dessa mulher sobre o nascituro, estando assim configurada a hipótese de curatela para o caso. Mas atenção, nesta hipótese, a curatela durará apenas até o nascimento da criança, pois, a partir daí, se não houver quem exerça o poder familiar sobre o agora menor, devem ser aplicadas as regras da tutela e não da curatela. Pablo Stolze registra a crítica no sentido de ser limitada a redação do Art. 1.779 do CC, pois há outras situações fáticas em que se deve determinar a curatela ao […]
O Congresso Nacional aprovou e o Presidente da República sancionou a Lei nº 14.125, de 10 de março de 2021, a qual autorizou pessoas jurídicas de direito privado a realizar a aquisição direta de vacinas contra a Covid-19, aprovadas pela ANVISA. No entanto, essa autorização veio com a obrigação de doação de 100% das vacinas compradas, para o SUS, visando acelerar a fila de prioridades estabelecidas no Plano Nacional de Imunização (PNI), o que não obteve sucesso. De acordo com o Art. 2º da Lei 14.125: “Pessoas jurídicas de direito privado poderão adquirir diretamente vacinas contra a Covid-19 que tenham autorização temporária para uso emergencial, autorização excepcional e temporária para importação e distribuição ou registro sanitário concedidos pela Anvisa, desde que sejam integralmente doadas ao Sistema Único de Saúde (SUS), a fim de serem utilizadas no âmbito do Programa Nacional de Imunizações (PNI).” Além disso, o parágrafo 1° do Art. 2° da mencionada Lei prega que: “Após o término da imunização dos grupos prioritários previstos no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, as pessoas jurídicas de direito privado poderão, atendidos os requisitos legais e sanitários, adquirir, distribuir e administrar vacinas, desde que pelo menos 50% (cinquenta por cento) das doses sejam, obrigatoriamente, doadas ao SUS e as demais sejam utilizadas de forma gratuita.” A recente lei gerou muitas discussões e isso já foi parar no Judiciário. Em Brasília, a Justiça Federal, liminarmente, declarou a inconstitucionalidade parcial dessa Lei e autorizou a importação de vacinas sem a necessidade de realizar as doações exigidas (decisão proferida pelo Juízo da 21° Vara Federal de Brasília, nos autos das ações n° 1013221-18.2021.4.01.3400, nº 1013225-55.2021.4.01.3400 e nº 1014039.67.2021.4.01.3400). Segundo a decisão, a Lei 14.125/21 “impôs duas estranhas e contraditórias condições”. A primeira delas é a de que até o término da vacinação dos grupos prioritários, a sociedade privada atuaria apenas como mera financiadora, sem qualquer gerência sobre os destinatários dos fármacos a serem adquiridos, pelos preços de mercado e com recursos próprios. A segunda contradição é a de que apenas num segundo momento seriam autorizadas operações de importação para “uso próprio” das referidas vacinas, contudo, somente no limite de apenas 50%. Nesse sentido, entendeu-se que procede o argumento de que, em termos práticos, por via indireta, a Lei 14.125/21, em vez de flexibilizar e permitir a participação da iniciativa privada, acabou “estatizando” completamente todo o processo de imunização da Covid-19 em solo brasileiro (contrariando, inclusive, o Art. 199 da CF/88, o qual é expresso em garantir que “a assistência à saúde é livre à iniciativa privada”). Por esse motivo, foi proposto nessa última segunda-feira, dia 5 de abril, um Projeto de Lei (PL 1033/2021), que prevê autorização para as instituições de direito público e privado realizarem a aquisição das vacinas, podendo vender, doar ou administrar as doses adquiridas. O PL propõe, ainda, que durante a fila de prioridades prevista no PNI, 50% das doses adquiridas deverão ser doadas ao SUS. Após encerrada a fila de prioridades essas instituições poderão doar, vender e administrar 100% das doses adquiridas. Com essa autorização, as pessoas jurídicas de direito público e privado poderão realizar a aquisição de vacinas para administrar em seus colaboradores, por exemplo. Desse modo, a fila de pessoas aguardando imunização seria reduzida consideravelmente, colaborando, assim, com o Poder Executivo da União, Estados, Distrito Federal e Municípios para o enfrentamento da crise mundial do coronavírus. O mais justo e em sintonia com a ordem constitucional é o PL 1033/2021 ser aprovado e já entrar em vigor, substituindo a lei anterior e possibilitando que pessoas além do governo possam pagar e usar as vacinas. Além de lógica e estritamente legal, as medidas além do governo irão adiantar em muito as filas, trazendo inúmeros benefícios à população. Destacando que, se o governo federal já contratou a compra de mais de 500 milhões de doses, qual o prejuízo da iniciativa privada comprar doses além dessas?
O Congresso Nacional aprovou e o Presidente da República sancionou a Lei nº 14.125, de 10 de março de 2021, a qual autorizou pessoas jurídicas de direito privado a realizar a aquisição direta de vacinas contra a Covid-19, aprovadas pela ANVISA. No entanto, essa autorização veio com a obrigação de doação de 100% das vacinas compradas, para o SUS, visando acelerar a fila de prioridades estabelecidas no Plano Nacional de Imunização (PNI), o que não obteve sucesso. De acordo com o Art. 2º da Lei 14.125: “Pessoas jurídicas de direito privado poderão adquirir diretamente vacinas contra a Covid-19 que tenham autorização temporária para uso emergencial, autorização excepcional e temporária para importação e distribuição ou registro sanitário concedidos pela Anvisa, desde que sejam integralmente doadas ao Sistema Único de Saúde (SUS), a fim de serem utilizadas no âmbito do Programa Nacional de Imunizações (PNI).” Além disso, o parágrafo 1° do Art. 2° da mencionada Lei prega que: “Após o término da imunização dos grupos prioritários previstos no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, as pessoas jurídicas de direito privado poderão, atendidos os requisitos legais e sanitários, adquirir, distribuir e administrar vacinas, desde que pelo menos 50% (cinquenta por cento) das doses sejam, obrigatoriamente, doadas ao SUS e as demais sejam utilizadas de forma gratuita.” A recente lei gerou muitas discussões e isso já foi parar no Judiciário. Em Brasília, a Justiça Federal, liminarmente, declarou a inconstitucionalidade parcial dessa Lei e autorizou a importação de vacinas sem a necessidade de realizar as doações exigidas (decisão proferida pelo Juízo da 21° Vara Federal de Brasília, nos autos das ações n° 1013221-18.2021.4.01.3400, nº 1013225-55.2021.4.01.3400 e nº 1014039.67.2021.4.01.3400). Segundo a decisão, a Lei 14.125/21 “impôs duas estranhas e contraditórias condições”. A primeira delas é a de que até o término da vacinação dos grupos prioritários, a sociedade privada atuaria apenas como mera financiadora, sem qualquer gerência sobre os destinatários dos fármacos a serem adquiridos, pelos preços de mercado e com recursos próprios. A segunda contradição é a de que apenas num segundo momento seriam autorizadas operações de importação para “uso próprio” das referidas vacinas, contudo, somente no limite de apenas 50%. Nesse sentido, entendeu-se que procede o argumento de que, em termos práticos, por via indireta, a Lei 14.125/21, em vez de flexibilizar e permitir a participação da iniciativa privada, acabou “estatizando” completamente todo o processo de imunização da Covid-19 em solo brasileiro (contrariando, inclusive, o Art. 199 da CF/88, o qual é expresso em garantir que “a assistência à saúde é livre à iniciativa privada”). Por esse motivo, foi proposto nessa última segunda-feira, dia 5 de abril, um Projeto de Lei (PL 1033/2021), que prevê autorização para as instituições de direito público e privado realizarem a aquisição das vacinas, podendo vender, doar ou administrar as doses adquiridas. O PL propõe, ainda, que durante a fila de prioridades prevista no PNI, 50% das doses adquiridas deverão ser doadas ao SUS. Após encerrada a fila de prioridades essas instituições poderão doar, vender e administrar 100% das doses adquiridas. Com essa autorização, as pessoas jurídicas de direito público e privado poderão realizar a aquisição de vacinas para administrar em seus colaboradores, por exemplo. Desse modo, a fila de pessoas aguardando imunização seria reduzida consideravelmente, colaborando, assim, com o Poder Executivo da União, Estados, Distrito Federal e Municípios para o enfrentamento da crise mundial do coronavírus. O mais justo e em sintonia com a ordem constitucional é o PL 1033/2021 ser aprovado e já entrar em vigor, substituindo a lei anterior e possibilitando que pessoas além do governo possam pagar e usar as vacinas. Além de lógica e estritamente legal, as medidas além do governo irão adiantar em muito as filas, trazendo inúmeros benefícios à população. Destacando que, se o governo federal já contratou a compra de mais de 500 milhões de doses, qual o prejuízo da iniciativa privada comprar doses além dessas?
Jornal Online Folha Vitória https://www.folhavitoria.com.br/geral/blogs/direito-ao-direito/2021/04/08/empresas-privadas-podem-comercializar-vacinas-contra-a-covid-19/ Artigo do advogado Rodrigo Carlos de Souza.
Jornal Online Folha Vitória link: https://www.folhavitoria.com.br/geral/blogs/direito-ao-direito/2021/03/18/o-decreto-do-governador/ Artigo do advogado Rodrigo Carlos de Souza.
Jornal Online Folha Vitória link: https://www.folhavitoria.com.br/geral/blogs/direito-ao-direito/2021/03/04/as-repercussoes-do-aumento-da-populacao-idosa-no-brasil/ Artigo do advogado Rodrigo Carlos de Souza.
No cenário contemporâneo do limiar do século XXI, no Brasil, a discussão acerca do envelhecimento populacional voltou a figurar no centro de debates políticos e sociais. Tal fato, deve-se à mudança na pirâmide demográfica, na qual, nota-se, cada vez mais, o aumento extremamente rápido da população idosa no País. As repercussões dessa mudança demográfica são inúmeras, já que refletem em diversos setores da economia, em especial na saúde pública, na previdência social e na taxa de desemprego, visto que no Brasil há discriminação, ainda que velada, na admissão de idosos em postos de trabalho. Segundo o levantamento de dados do Ministério da Saúde, em 2016, o Brasil possuía a quinta maior população senil do mundo, e, em 2030, a tendência é que a população idosa ultrapasse o número total de crianças entre zero e 14 anos, fato este que mostra-se muito preocupante, devido à precariedade de recursos para acolher a população idosa do País, tendo em vista que as verbas destinadas a projetos sociais que amparam a população, sobretudo a idosa, são claramente escassas. O envelhecimento populacional é um fato inevitável e influente quando se discute os deveres do Estado perante a sociedade. Nesse contexto, o aumento do número de idosos no Brasil representa uma enorme responsabilidade, tanto para o governo, quanto para a população, de garantir um envelhecimento com qualidade e de forma salutar. Considerando essa realidade, é importante atentar-se às necessidades dos cidadãos que envelhecem em um país com políticas públicas sociais frágeis, como o Brasil. Segundo o Artigo 230, parágrafo 1⁰, da Constituição Federal, “A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida.” Entretanto, por diversas vezes, o direito constitucional aqui invocado, que é assegurado ao idoso, inclusive com status de garantia fundamental, não é de fato concretizado e isto merece uma grande reflexão por parte das autoridades constituídas e da sociedade civil, respectivamente educando e absorvendo a educação. Seguindo a vertente aqui trazida, reforça-se que o envelhecimento populacional traz consigo inúmeros dilemas e dentre os mais preocupantes está o acesso à saúde, que embora seja um direito social previsto no Art. 6º. da Constituição Federal, é inequívoca a existência de problemas de saúde que acompanham a população em processo de senescência e que desafiam os sistemas de saúde, como o SUS, que tem como objetivo atender toda a população, inclusive a idosa. Porém, infelizmente, a realidade não é essa. O SUS apresenta inúmeras falhas que trazem como consequência a não efetivação dos direitos sociais dos cidadãos, que muitas vezes, sem outra alternativa, acabam sendo prejudicados, e isso torna-se mais grave ainda quando se trata de idosos, que, em sua maioria, apresentam a saúde mais frágil. Diante desse contexto, ainda vale ressaltar a questão da previdência social. O envelhecimento populacional colocou em pauta uma discussão bastante polarizada em relação a opiniões no país. Todavia, dados do Ministério da Economia demonstraram a necessidade da Reforma da Previdência, para que passasse a haver maior equidade entre a população senil, visando acolher toda a sociedade, mormente aqueles que caminham para a terceira idade, que neste novo cenário, pós Reforma da Previdência, presume-se que tenham sua subsistência garantida por meio do benefício previdenciário, livre, pelo menos por ora, do fantasma da falência previdenciária. Segundo dados do IBGE, caso a Reforma Previdenciária não tivesse sido implementada, a relação entre a população potencialmente inativa e a população potencialmente ativa no Brasil subiria para 52,1% até 2050. Ou seja, em 2050, para cada 100 adultos aptos a contribuir no mercado de trabalho, o país teria 36 idosos para pagar aposentadoria, evidenciando-se, portanto, a inevitabilidade da Reforma da Previdência, vez que a seguridade social também é um direito constitucional, insculpido no Artigo 194 da Carta Magna e precisava, por isto, ser preservado. Antes de caminhar para a conclusão, cabe ressaltar também que, o aumento do número de idosos no país contribui sobremaneira para o aceleramento do já, há muito existente, assoberbamento do Poder Judiciário e isto lhe tem trazido novos desafios. A demanda judicial envolvendo pessoas com mais de 60 anos aumentou, mas a estrutura do Poder Público ainda não acompanha o ritmo das demandas. Ademais, o Artigo 71 do Estatuto do Idoso estabelece que processos onde o idoso seja parte ou interveniente, tenham prioridade na tramitação, contudo, o sistema judiciário brasileiro ainda não se adaptou a essa nova realidade, não obstante o Estatuto em voga ser de 2003, e com isto, na prática, muitas vezes o direito de prioridade é ignorado pelos juizados. Diante do exposto, o desafio que o Brasil está enfrentando é evidente e alarmante. Questões que envolvem o setor saúde, seguridade social e o crescimento econômico requerem atenção e ampla reflexão e revisão, sobretudo agora, quando o país e o mundo se encontram flagelados pela pandemia.
Jornal Online Folha Vitória link: https://www.folhavitoria.com.br/geral/blogs/direito-ao-direito/2021/02/18/etica-x-covid/ Artigo do advogado Rodrigo Carlos de Souza.